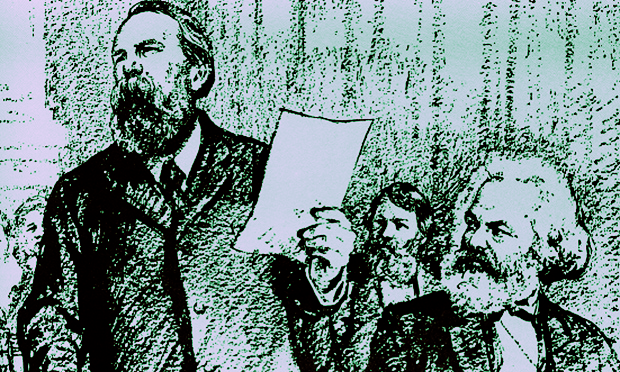Este artigo é fruto da discussão realizada no seminário do PSTU, cujo tema foi “Teoria da Revolução Permanente e sua aplicação no Brasil”. Por que é importante a discussão sobre o PCB, a Cepal e os teóricos que os criticaram? Porque a interpretação do Brasil moderno que a esquerda em geral definiu para seus projetos vem dessa época, que marca as primeiras visões de conjunto sobre o Brasil.
Por: José Welmowicki
A evolução das visões sobre o Brasil desde os anos 1930
A primeira tentativa de interpretação da esquerda foi a do PCB. Aqui, cabe explicar o contexto internacional em que foi elaborada. Naquele momento, fins da década de 1920, começo dos anos 1930, os partidos comunistas, já dominados pelo stalinismo, eram hegemônicos no movimento operário do mundo inteiro. No Brasil, entre 1930 e 1964, o PCB foi amplamente majoritário no movimento operário e na intelectualidade de esquerda.
A visão que eles tinham do Brasil derivava de uma teoria que a própria Internacional Comunista elaborara como justificativa para sua desastrosa política para a revolução chinesa de 1926-28, no marco da afirmação do socialismo num só país e do combate à teoria da revolução permanente de Trotsky. A teoria stalinista deveria se aplicar a todos os países atrasados, classificando-os como feudais ou semifeudais, para os quais não estaria colocada a revolução socialista, e sim a revolução democrática burguesa. A partir dessa revolução, abrir-se-ia uma etapa de desenvolvimento nacional em que, aí sim, estaria colocada a luta pelo socialismo. No VI Congresso da III Internacional de 1928, essa teoria foi aceita como válida para todo o mundo colonial.
Coerente com essa teoria, o PCB classificava o Brasil como feudal, tirando como consequência programática a necessidade de uma revolução democrática burguesa. Isso gerou a tese de que caberia à burguesia nacional, em aliança com o proletariado e o campesinato, cumprir as tarefas democráticas, acabar com o latifúndio e libertar o Brasil da dominação imperialista. Só a partir daí estariam colocados o desenvolvimento capitalista e a preparação da luta pelo socialismo. Essa compreensão esteve em todas as resoluções desde os anos 1930 (e foi criticada duramente pela Liga Comunista, a primeira organização trotskista brasileira) e continuou dominando a visão do PCB até a década de 1960, como mostra a resolução política do V Congresso, de 1960:
“[…] Nas condições atuais, entretanto, o Brasil tem seu desenvolvimento entravado pela exploração do capital imperialista internacional e pelo monopólio da propriedade da terra em mãos da classe dos latifundiários. As tarefas fundamentais que se colocam hoje diante do povo brasileiro são a conquista da emancipação do país do domínio imperialista e a eliminação da estrutura agrária atrasada, assim como o estabelecimento de amplas liberdades democráticas e a melhoria das condições de vida das massas populares. Os comunistas empenham-se na realização dessas transformações, ao lado de todas as forças patrióticas e progressistas, certos de que elas constituem uma etapa prévia e necessária no caminho para o socialismo […] em sua etapa atual, a revolução brasileira é anti-imperialista e antifeudal.”
Houve outra corrente influente entre 1945 até a década de 1960, que desenvolveu uma compreensão que se aproximava da visão do PCB. Tratava-se de uma corrente articulada pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), a comissão da ONU dedicada a estudar a economia na América Latina, que serviu como instituição para uma serie de pensadores que tentavam entender nossa realidade a partir da dicotomia desenvolvimento/subdesenvolvimento. Segundo eles, o problema de países como o Brasil seria que seu desenvolvimento econômico tinha ficado retardado por uma série de barreiras por sua localização subordinada entre as nações e pelo tipo de estrutura produtiva, em que a produção agrícola e de matérias-primas eram o centro, ao contrário das nações mais desenvolvidas, que tinham como centro a indústria. Dessa tese, decorria a proposta de fomentar a industrialização como superadora do subdesenvolvimento. Essa corrente foi chamada de desenvolvimentista ou nacional-desenvolvimentista, pois pregava a luta pelo desenvolvimento autônomo da nação. Para garantir trilhar esse caminho, dever-se-ia fazer uma aliança entre a burguesia nacional, os trabalhadores e os camponeses. Celso Furtado era um dos principais teóricos da Cepal.
Nos anos 1930, já estávamos na época imperialista. A partir da época imperialista, a economia já é mundial. Não há mais como separar nenhuma sociedade, nenhuma economia de um país do resto do mundo. O mesmo vale para a luta de classes: é um processo internacional. Já não era mais possível um desenvolvimento capitalista autônomo sob o imperialismo. Só a revolução socialista poderia emancipar o país. Como explica Trotsky em A Revolução permanente, “com a criação do mercado mundial, da divisão mundial do trabalho e das forças produtivas mundiais, o capitalismo preparou o conjunto da economia mundial para a reconstrução socialista”.
Por outro lado, não havia mais espaço para um desenvolvimento autônomo que rompesse com o imperialismo mantendo-se capitalista. Ao longo do século 20, o Brasil permaneceu uma semicolônia. Primeiramente, da Inglaterra e, depois, dos EUA, como é até hoje.
Com o golpe de 1964, houve uma crise muito forte no PCB e nas forças que se apoiavam nas suas elaborações, assim como na visão cepalina, muito presente no PTB de João Goulart e Leonel Brizola. A capitulação do stalinismo ao governo Goulart e a derrota frente ao golpe militar geraram uma serie de dissidências e surgiu uma série de críticas às teorias que haviam embasado a prática de colaboração de classes da esquerda no período de 1945 a 1964.
Uma série de autores ajudou a construir uma visão crítica do PCB e da Cepal nas décadas de 1970 e 1980. Estudamos e valorizamos muito as elaborações que existem. Mas, ao utilizarmos como marco teórico a revolução permanente, vemos importantes limitações e equívocos em suas elaborações. Até hoje, não foram elaboradas ou publicadas visões críticas e dialéticas sobre elas. Há, por exemplo, uma tendência a reivindicar, de maneira acrítica e sem apontar seus limites, Caio Prado Junior, por ele expressar uma visão crítica à interpretação do PCB ou a reivindicar acriticamente Florestan Fernandes e outros autores, como Chico de Oliveira. Nossa proposta aqui é analisar suas interpretações com um olhar crítico, valorizando o que na nossa maneira de ver são importantes acertos, mas também apontar seus limites e erros.
A contribuição e nossa crítica a Caio Prado Junior
Ronald Leon já analisou, na Marxismo Vivo nº 9, os avanços e os limites de Caio Prado. Ele teve grande importância na análise do Brasil e contribuiu para destruir o velho argumento de seu partido, o PCB, sobre a suposta formação feudal e também por mostrar a relação entre a burguesia nacional e o imperialismo. Nessa contribuição, entretanto, persistiam grandes contradições. Caio foi militante comunista a partir de 1931 e por toda sua vida membro do PCB e adepto da URSS e das teorias do stalinismo. Apoiou a política internacional de Stalin e a orientação da burocracia russa pós-morte de Stalin, com Nikita Kruschev e a linha da coexistência pacífica com o imperialismo. Caio Prado Jr. não tinha diferenças com a estratégia de conciliação de classes aplicada pelo stalinismo em escala mundial – e no Brasil também – e o demonstrou em sua participação como parlamentar no pós-guerra e intelectual de destaque nos anos 1950.
Isso esteve na raiz de uma incoerência entre a análise que fazia da formação do Brasil e o programa. Apesar de no texto A Revolução Brasileira dizer que o Brasil já era capitalista em suas relações de produção no campo e na cidade e também afirmar o caráter submisso da burguesia brasileira em sua relação com o imperialismo, sua perspectiva era a revolução que tiraria o Brasil do atraso colonial, abrindo passo ao desenvolvimento nacional: “A revolução brasileira está marcada pelo processo geral que vai do Brasil colônia de ontem ao Brasil nação de amanhã, e que se trata hoje de levar a cabo. Tarefa essa que constitui a essência da revolução brasileira”.
Assim, mantinha-se nos marcos da proposta de revolução democrática burguesa, embora sem acreditar na necessidade de superar supostos restos feudais, mas sim os aspectos coloniais do país.
Embora analise o caráter submisso da burguesia brasileira, ele não define quem é a classe capaz de assumir o projeto de desenvolvimento nacional autônomo, o Brasil nação. Mas o fato de não definir coloca-nos uma hipótese implícita e, em alguns de seus textos programáticos, ele fala em projeto nacional com a iniciativa privada. Qual classe social tem a iniciativa privada? A burguesia. Contraditoriamente, ele levanta a hipótese da burguesia nacional cumprir a tarefa de libertação nacional, que ele mesmo analisa como associada ao imperialismo. Essa contradição em seus textos tem a ver com a não superação programática e com uma concepção mais geral que não rompeu com as teses internacionais do stalinismo e, portanto, opostas à teoria da Revolução Permanente. Para essa teoria, a saída para a superação do caráter colonial ou semicolonial do capitalismo brasileiro é a revolução encabeçada pela classe operária que, ao tomar o poder, imporá a ditadura do proletariado que cumprirá as tarefas democráticas das quais a principal é a liberação nacional do imperialismo, mas essa revolução se fará contra a burguesia nacional.
A contribuição e a crítica a Chico de Oliveira
Francisco (Chico) de Oliveira chegou a trabalhar com Celso Furtado na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) durante o período de 1959 a 1964.
Para a Cepal, havia um Brasil moderno e um Brasil arcaico. Para eles, o Brasil arcaico, que era associado ao campo, ao latifúndio, impedia o desenvolvimento do país. Portanto, ele considerava que se o Brasil se industrializasse, iria se desenvolver, e superaria esse atraso se o Estado e um setor progressista da burguesia aceitassem essa proposta. Por isso, Celso Furtado criou e dirigiu a Sudene nos governos Juscelino Kubitschek e João Goulart, do qual foi ministro do Planejamento, com o objetivo de levar o desenvolvimento ao Nordeste atrasado.
Chico de Oliveira, no Crítica à razão dualista, faz uma crítica frontal a essa ideia de “dois Brasis” e demonstrou que há uma articulação entre ambos, porque esse Brasil atrasado é fundamental para o Brasil moderno, essa agricultura atrasada, que vende barato os produtos alimentícios, e esse tipo de propriedade são funcionais para o moderno, inclusive para as indústrias estrangeiras. Não há uma contradição entre nacional e estrangeiro nisso e não há uma contradição decisiva entre a burguesia industrial e os latifundiários do campo atrasado. Ele desmistifica a ideia de um desenvolvimentismo do Brasil a partir do avanço da indústria.
Mas Chico de Oliveira, que teve o mérito de demonstrar que de-positar as esperanças num desenvolvimento industrial que pudesse superar o atraso do latifúndio era um projeto sem fundamento que levaria a fracassos seguidos, como os da aliança populista e do governo João Goulart, caiu num erro ao analisar os caminhos alternativos possíveis: ele também nutriu esperanças num caminho endógeno ao não dar a devida importância ao papel do Brasil no mundo, que, mesmo havendo um processo de industrialização, nunca deixou de ser uma semicolônia. Na época imperialista, já não existe essa possibilidade. Ele parte de um fato real: na década de 1930, entre as duas guerras mundiais, em particular após a crise de 1929, houve um momento, o período de passagem de semicolônia inglesa para semicolônia norte-americana, que permite às burguesias latino-americanas, entre as quais a brasileira, apoiarem-se nos seus proletariados para conseguir algumas concessões do imperialismo.
Trotsky analisa esse processo em seus textos sobre a América Latina escritos no México. Esse processo, no entanto, não significou uma via autônoma ou independente e, quando o imperialismo norte-americano voltou a impor sua hegemonia na região, recortou as concessões. Para isso, recorreu a pressões duras e inclusive a golpes militares quando havia alguma ameaça maior.
Ou seja, ele acerta em mostrar a relação de funcionalidade entre os setores atrasado e moderno, inclusive cita a teoria do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky, mas interpreta o crescimento da indústria como um processo endógeno, sem integrá-lo de forma submetida à economia mundial. Que sem uma revolução socialista era impossível sequer manter esses processos. O processo posterior no Brasil comprovou esse limite dado pela submissão da burguesia ao imperialismo.
No terceiro governo de Getúlio Vargas, houve um processo de ascenso operário que preocupou a burguesia e o imperialismo, e a maioria da burguesia nacional passou a articular um golpe. Getúlio suicida-se para evitar o golpe em preparação e, depois de uma série de crises, Juscelino Kubitschek (PSD) é eleito com o apoio do PTB e do PCB, que permitiram desviar o ascenso e ter um período de relativa estabilidade. Juscelino implementou o modelo de industrialização nas áreas de bens duráveis com a participação das empresas imperialistas e o Estado como garantidor da infraestrutura e de determinados insumos básicos, como a eletricidade e o aço. Em 1955, já era o modelo que posteriormente a ditadura viria a intensificar, com a entrada do imperialismo na área produtiva industrial. Aplicou-se o famoso tripé: burguesia imperialista no setor mais avançado, burguesia industrial brasileira nos setores de menos tecnologia – aproveitando a mão de obra migrante (em especial nordestina) para terem uma taxa de lucro altíssima – e o Estado entrando com toda a parte estrutural. Nenhum governo posterior à ditadura modificou esse modelo, ao qual a burguesia nacional adaptou-se. Tanto Fernando Collor, quanto FHC, que foram seus grandes entusiastas, e também os governos do PT, que inventaram o nome de neodesenvolvimentismo, aplicaram-no.
Essa contradição de Chico de Oliveira, ao ver centralmente uma dinâmica interna para explicar o processo, levou-o a pensar que não era imperioso o caminho revolucionário e a admitir um caminho reformista para o desenvolvimento nacional. Por isso, mais adiante, nos anos 1990, defendeu um welfare state brasileiro para alcançar uma melhor distribuição de renda, e viu no PT o sujeito político para instalá-lo. Em Os Direitos do antivalor (1992), ele propõe uma série de reformas emulando o welfare state europeu. Mas aconteceu justamente o oposto: um ataque permanente aos poucos direitos sociais conquistados a duras penas. Como Chico não via essa contradição estrutural, pensava ser isso possível, a partir de uma decisão interna de um sujeito político decidido a dar passos nessa direção de reformas substanciais no marco do capitalismo brasileiro. Uma visão reformista que o próprio PT decepcionou no campo dos direitos sociais, e fez Chico romper com esse partido, depois de militar nele por anos, quando Lula chegou ao governo e avançou na implementação da reforma da Previdência.
A contribuição de Florestan Fernandes e nossa crítica
Florestan Fernandes tem o grande mérito de ter caracterizado a incapacidade congênita da burguesia nacional de lutar pela revolução democrática burguesa no Brasil. Em seu texto A revolução burguesa no Brasil, aponta isso em vários momentos. Ele também recusa a ideia da formação feudal do país presente no PCB e aponta o caráter subordinado do capitalismo e a submissão da burguesia nacional em relação ao imperialismo.
Por isso, quando se constitui, consolida-se e tal economia competitiva se expande, tende a redefinir e a fortalecer os liames de dependência, tornando impossível o desenvolvimento capitalista autônomo e autossustentado.
Florestan afirma que a burguesia é incapaz e, mais ainda, que ela necessita da contrarrevolução, e trata de mostrar que isso é estrutural. Em O que é revolução, de 1981, ele afirma:
“Os últimos 25 anos compreendem uma vasta transferência de capitais, tecnologia avançada e quadros empresariais técnicos e dirigentes, pela qual a economia e a sociedade brasileira foram multinacionalizadas através de uma cooperação organizada entre capitalistas, militares burocratas brasileiros com a burguesia mundial e seus centros de poder. […] o que interessa ressaltar nesse quadro? Primeiro, a relação siamesa entre a burguesia nacional e a burguesia externa, que não são mais divididas e opostas entre si quando o capitalismo atinge o seu apogeu imperialista.”
Porém, a contradição que ele não consegue superar – como outros autores – é sobre a atualidade e a afirmação do sujeito social da revolução socialista. Para ele, a classe operária brasileira arrasta um atraso cultural tão profundo que não teria condições por um longo período de se colocar como cabeça de uma revolução. Por isso, chega a prever um processo longo de amadurecimento tomando a tarefa da revolução democrática em si até que se possa colocar no horizonte a revolução proletária, mesmo que ela já esteja colocada em escala internacional. Ele localiza esse atraso na formação do proletariado após a abolição da escravatura:
“De um lado, fica patente que o negro ainda é o fulcro pelo qual se poderá medir a revolução social que se desencadeou com a Abolição e com a proclamação da República (e que ainda não se concluiu). De outro, é igualmente claro que, no Brasil, as elites não concedem espaço para as camadas populares e para as classes subalternas de motu próprio (de livre e espontânea vontade). […] Cabe às classes subalternas e às camadas populares revitalizar a República democrática, primeiro para ajudarem a completar, em seguida, o ciclo da revolução social interrompida e, por fim, colocarem o Brasil no fluxo das revoluções socialistas do século XX.”
O argumento para afirmar que a classe operária não tem condições de encabeçar esse processo é o atraso cultural, a falta de um período de formação. E não faz a comparação que deveria com a Revolução Russa. Afinal, se, como ele enfatiza, no Brasil havia a escravidão recente, que era um fator imenso de atraso, a classe operária da Revolução Russa também vinha do campo, dos servos recém-libertados, também era jovem, também tinha baixo nível cultural, mas devido ao seu papel objetivo na sociedade russa e à existência do Partido Bolchevique, cumpriu um papel revolucionário em outubro de 1917.
Outro elemento débil em Florestan é a associação direta entre classe operária e suas direções, como se essas refletissem imediatamente aquela. Não via a questão da direção como um problema central para impedir o desenvolvimento da classe em direção a ser uma alternativa de poder:
“Numa sociedade de classes, se a classe trabalhadora não amadurece politicamente, se não se desenvolve como classe independente, o intelectual que se identifica com ela não pode ser instrumental para nada. A menos que ele queira ser instrumental para as suas inquietações, para o seu nível de vida, para um trabalho pessoal criador. Mas, se você vai além disso, você se esborracha. O que aconteceu comigo foi que eu me esborrachei e daí o fato de que, até hoje, não me conformo com o nosso padrão de radicalismo e de socialismo.”
Para resumir essa primeira síntese sobre alguns dos mais importantes intérpretes do Brasil, é importante ressaltar que eles fizeram aportes muito importantes, mas parciais, para a superação da visão do PCB e da Cepal. Valorizamos muito essas elaborações. Mas todos tinham a limitação de não pensar a partir da revolução permanente e, por essa via, não conseguiam apresentar uma alternativa, mantendo um ceticismo sobre o papel da classe operária como sujeito social.
Cabe agora basear-se na teoria da Revolução Permanente para fazer avançar a elaboração marxista sobre nossa formação social e a resposta que necessitamos: o programa revolucionário.
Publicado em outubro de 2017 na revista Marxismo Vivo N. 10