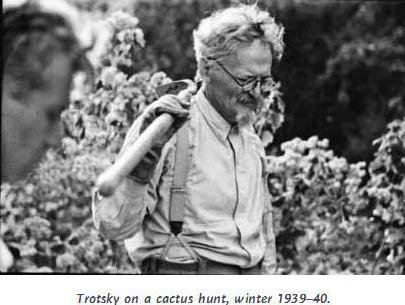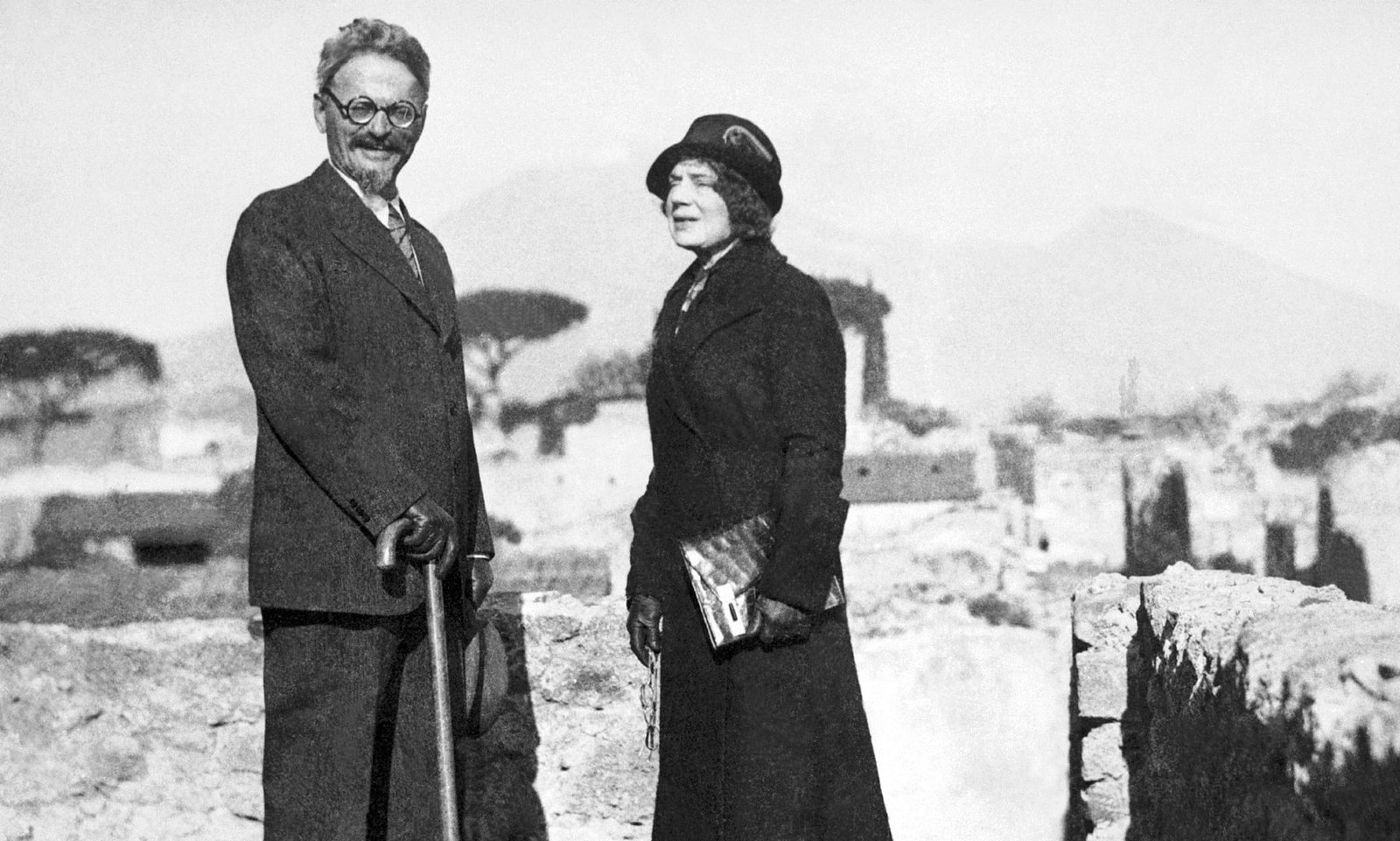O morenismo 1 surgiu da luta frontal contra as revisões programáticas do pablismo 2 na década de 1950 e, em seguida, na luta contra a corrente majoritária do antigo Secretariado Unificado (SU), liderada por Ernest Mandel. 3 Livros como O Partido e a revolução e A Ditadura revolucionária do proletariado, ambos de Nahuel Moreno, são expressões dessas polêmicas.
Por: José Welmowicki
Contudo, após a morte de Moreno, nossa corrente acompanhou a evolução teórica e política do ex-SU apenas superficialmente. Isso ocorreu apesar de o próprio Moreno ter consolidado a Liga Internacional dos Trabalhadores – Quarta Internacional (LIT-QI) contra a corrente revisionista e liquidacionista organizada, então, no SU, que Moreno caracterizava como “o centro do revisionismo” 4 no seio do trotskismo.
Há muitos anos, o ex-SU deu o salto de uma organização revisionista para o reformismo puro e simples: removeu explicitamente de seu programa a estratégia da ditadura do proletariado; abandonou a concepção de centralidade da classe operária no processo revolucionário; 5 seus dirigentes estiveram entre os principais ideólogos e apoiadores dos partidos amplos e anticapitalistas, principalmente na Europa; dissolveram sua seção mais importante, a Liga Comunista Revolucionária francesa, para fundar o Novo Partido Anticapitalista (NPA) com um programa reformista; não só apoiaram distintos governos burgueses que chamavam de progressistas, como o de Chávez, 6 promovendo a ideologia do “socialismo do século XXI”, como participaram diretamente de governos burgueses de colaboração de classes como o de Lula, no Brasil.
Em nossa opinião, o SU, hoje Comitê Internacional (CI), é a corrente internacional com origem no trotskismo que ainda mantém alguma influência, e reflete de maneira mais nítida – teórica e politicamente – os efeitos do que chamamos de “vendaval oportunista”. Não é por acaso que seja atualmente um polo de atração para setores de diferentes origens, como o Movimento Esquerda Socialista (MES) brasileiro, o MST argentino, ou o Socialist Workers Party (SWP) britânico. Embora funcionem como uma federação frouxa de partidos e movimentos e, apesar de terem perdido força nas últimas décadas (como consequência de suas mudanças políticas que se refletem no declínio do NPA francês), suas elaborações têm alcance internacional e servem para justificar teoricamente a capitulação da esquerda à democracia burguesa e ao reformismo.
Por essa razão, é importante retomar um estudo mais profundo sobre o conteúdo da elaboração do ex-SU no marco de nossa reelaboração programática. Demos um passo em relação à questão de seu programa e da ditadura do proletariado, sua concepção de Estado, a estratégia dos partidos anticapitalistas e sua visão sobre a Europa e o imperialismo. Porém, estamos atrasados no estudo rigoroso das premissas teóricas e das transformações de fundo em que se apoiaram para chegar à sua atual visão de mundo.
Do revisionismo ao reformismo
Nossa corrente sempre definiu o SU de Mandel como uma correte revisionista e liquidacionista. Ao caracterizá-los como revisionistas, dizíamos que seus desvios, zigue-zagues e capitulações não eram o resultado deste ou daquele erro político circunstancial. Pelo contrário, deviam-se ao fato de que o SU cristalizara-se como uma corrente que negava os pilares fundamentais do marxismo e do trotskismo.
As Teses de Fundação da LIT-QI definem claramente as características do que chamamos de revisionismo:
“No decorrer desta longa marcha, todos os principais acontecimentos da luta de classes (principalmente cada grande vitória revolucionária de dimensões globais) motivaram, em algum setor de nosso movimento, uma tendência à adaptação à direção burocrática ou nacionalista dessas vitórias.
“A luta pela construção de uma direção revolucionária internacional implica a luta pela destruição de todas as direções burocráticas ou nacionalistas que concorrem conosco no seio do movimento de massas. O processo de construção de uma direção revolucionária significa, ao mesmo tempo, uma “guerra implacável” (como diz com razão o Programa de Transição) contra todas as outras correntes burocráticas e/ou pequeno-burguesas do movimento de massas.” 7
Nesse sentido, as teses definem qual é a característica comum de todas as diferentes tendências revisionistas: “o fato de que propõem, não a guerra implacável, mas algum tipo de bloco com alguma tendência burocrática e/ou nacionalista, porque esta supostamente desempenha um papel progressista e até mesmo revolucionário”. 8
A consequência não foi outra senão a liquidação do partido revolucionário e da IV Internacional. O revisionismo havia sido “o principal obstáculo subjetivo na longa marcha rumo à construção de uma direção revolucionária internacional”. 9
Desde a década de 1950, Pablo e Mandel, impactados pelo fortalecimento relativo do stalinismo no segundo pós-guerra e pelo surgimento dos primeiros estados operários deformados, imprimiram um giro à IV Internacional, a partir da direção do então Secretariado Internacional (SI), orientando todos os seus partidos a realizarem o “entrismo sui generis” nos Partidos Comunistas ou em movimentos nacionalistas burgueses, porque, segundo eles, o stalinismo seria obrigado a dirigir revoluções no marco de uma III Guerra Mundial iminente. Isso levou à crise e inclusive à dissolução de quase todos os partidos que seguiram essa orientação. O SU como tal nasceu em 1963, em torno à defesa da revolução cubana, e Mandel encabeçou sua ala majoritária. Essa ala não fez o balanço dos graves erros do período anterior e continuou com a mesma linha impressionista, capitulando a qualquer fenômeno dito progressista que aparecesse e impactasse a vanguarda. Foi então a vez de capitular à direção castrista 10 e aos movimentos guerrilheiros, novamente com resultados desastrosos para o trotskismo internacional. O mesmo aconteceu diante do Movimento das Forças Armadas (MFA) de Portugal e, em seguida, com o chamado eurocomunismo. Na Nicarágua, o SU apoiou o governo de unidade nacional composto pelos sandinistas 11 e por Violeta Chamorro, 12 defendendo-o como um “governo operário e camponês”.
A trajetória do revisionismo ao reformismo foi concluída a partir dos processos do Leste Europeu, aos quais caracterizam como uma profunda derrota do movimento de massas, que abriu uma crise no projeto socialista. Essa premissa e as conclusões dela derivadas levaram o SU a uma adaptação completa aos novos aparatos eleitorais surgidos da crise dos PCs e da social-democracia clássica, como o SYRIZA (Grécia), o Podemos (Espanha), etc. A tese do ex-SU é a de que os limites dessas novas direções obedecem às características de uma nova época, marcada pelo retrocesso da consciência das massas, que, por sua vez, resultaria da suposta derrota histórica no Leste Europeu. A partir daí, concluíram que não haveria outra saída a não ser apoiar ou ser parte dessas organizações.
“Uma mudança de época”
Os processos do leste significaram, para a grande maioria da esquerda, o início ou o agravamento de sua bancarrota teórica, programática e política. Influenciada pelo stalinismo e suas variantes – para o qual, como aparato, o fim da URSS significou, evidentemente, uma derrota histórica – em diferentes graus e com diferentes tons, a quase totalidade da esquerda chorou o suposto “fim do socialismo real”, a falência do “bloco socialista”, etc. O caso do ex-SU não foi diferente. Pelo contrário, o ex-SU foi a vanguarda desse processo.
Para eles, a queda do Muro de Berlim produziu nada menos do que “uma mudança de época”. Daniel Bensaïd, principal teórico dessa corrente depois de Mandel, intitula, dessa maneira, um relatório apresentado no XIV Congresso do SU, em julho de 1995. Nesse texto, Bensaïd define o caráter das transformações decorrentes do fim da URSS como uma “grande transformação mundial”, especificamente, como uma “mudança de época”. Note-se que Bensaïd não fala de período, ou etapa, mas de época. Concretamente, para o ex-SU, estava encerrada a época histórica definida por Lenin como de “guerras, crises e revoluções”, aberta com a I Guerra Mundial e o Outubro russo – que o marxismo entendia como uma época revolucionária, a época imperialista –, dando lugar a outra diferente: “não estamos mais no período político de 1968, não saímos ainda da onda longa depressiva e estamos no final de uma época, aberta pela Primeira Guerra Mundial e pela Revolução Russa”. 13
A nova época não só colocava tudo em questão, como, para Bensaïd, implicava um retrocesso para o movimento operário de quase um século ao identificar o ponto de partida dos marxistas numa coordenada anterior a 1914:
“[…] o laboratório que se abre é de uma amplitude comparável à do início do século, onde a cultura teórica e política do movimento operário foi forjada: análise do debate sobre o imperialismo, sobre a questão nacional, organização política, social, parlamentar.” 14
Esta nova época seria, essencialmente, defensiva, pois, de acordo com Bensaïd, inaugurava-se com uma profunda derrota do movimento operário: o “desmantelamento da União Soviética sem culminar numa revolução política”. 15 Assim, Bensaïd estabeleceu como características de toda uma época “o enfraquecimento social dos trabalhadores” e a “crise do projeto socialista”. 16
Bensaïd atribuía essas “relações de força mundiais” desfavoráveis não a fatores objetivos, mas a elementos subjetivos, como o retrocesso ideológico do movimento operário, devido aos “profundos efeitos da crise do socialismo real”. 17 Destacamos este argumento desse informe para não haver confusão: Bensaïd não está afirmando que teria surgido um período de desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo e que, portanto, estaria prevendo a possibilidade de conquistar reformas que trouxessem melhorias ao nível vida das massas (como se fosse o período da livre concorrência anterior ao advento da época imperialista). Não é por isso que ele opina que estaríamos numa nova época. Ele acredita que ocorreu uma mudança reacionária da época histórica devido ao retrocesso da consciência e à “crise do movimento operário”, ou seja, devido a elementos subjetivos.
Bensaïd diz:
“As mudanças nas relações políticas mundiais após a queda do Muro de Berlim, o desmantelamento da União Soviética e a Guerra do Golfo deram o golpe final, causando uma crise aberta, não conjuntural, nas formas do anti-imperialismo radical da fase precedente. […] Neste momento, a tendência dominante em escala internacional é o enfraquecimento do movimento social (começando pelo sindical). […] A esquerda revolucionária está hoje mais pulverizada e enfraquecida que há cinco anos […] Para a reconstrução de um projeto revolucionário e de uma Internacional, partimos de condições significativamente deterioradas.” 18
Em nenhum momento destaca não só a importância, mas o próprio fato da destruição do aparato contrarrevolucionário mundial do stalinismo pelas mãos das massas soviéticas. Ou seja, o ex-SU respondeu ao problema crucial de saber quem, quando e como o capitalismo foi restaurado fazendo coro com as viúvas do stalinismo: culpando os limites das massas trabalhadoras e não a burocracia termidoriana e totalitária do Kremlin.
Para nós, a restauração do capitalismo foi obra daquela burocracia, que, para garantir a continuidade de seus enormes privilégios, decidiu, em completo acordo com o imperialismo, transformar-se em proprietários capitalistas no marco do retorno da economia de mercado e do desmonte dos estados operários. No entanto, alguns anos mais tarde, as massas soviéticas fizeram o stalinismo pagar caro por essa traição e, com a sua mobilização revolucionária, destruíram, um por um, em menos de dois anos, os terríveis regimes totalitários de partido único da URSS e da Europa Oriental. É verdade que a perda dos estados operários significou uma derrota e a perda de uma conquista enorme da classe trabalhadora. A questão, no entanto, é que o processo não parou por aí. As massas soviéticas, embora não tenham conseguido reverter o processo de restauração, liquidaram o maior aparato contrarrevolucionário da história, impondo-lhe uma derrota histórica. Ao destruir o aparato stalinista, os povos soviéticos libertaram forças gigantescas antes aprisionadas pelo stalinismo. Essa não é apenas uma imensa vitória, mas o principal fato da luta de classes mundial após a Revolução Russa.
A tendência histórica do ex-SU à capitulação aos grandes aparatos e à opinião geral da esquerda, num momento decisivo da história, levou-o a um novo e fatal seguidismo: somou-se ao triste coro de lamentações daqueles que sentem saudades do stalinismo.
O programa da nova época
A nova época exigia, nas palavras de Bensaïd, uma “redefinição programática”, “construir um novo programa”. 19 Por si só, isso não é um problema. Qualquer mudança importante na realidade exige uma atualização programática. O problema foram as premissas teóricas das quais Bensaïd partiu para elaborar esse novo programa e o método usado para construí-lo.
Bensaïd e o ex-SU partiram da hipótese de que a queda da União Soviética significou um “eclipse da razão estratégica”. 20 Tudo estava questionado e, por isso, tinham o caminho livre para deixar para trás qualquer legado trotskista. Assim, abandonaram o método trotskista de elaborar o programa a partir das necessidades objetivas da classe operária para absolutizar o elemento subjetivo: a consciência das massas e, por essa via, subordinar o programa à correlação de forças que, por sua vez, expressaria esse atraso da consciência das massas.
Coerentes com a caracterização de que a época de crises e revoluções que se abriu em 1914 estava encerrada e com a suposição de que a nova época estaria marcada pelo retrocesso, o problema do poder foi relegado para um futuro incerto, porque as massas não o veem.
Nesse marco, a conclusão a que chegaram foi a de adaptar o programa a essa nova época, desprovida de possibilidades revolucionárias. Bensaïd chegou a propor em seu texto as novas coordenadas programáticas pós-leste. Sobre a Europa, o centro histórico do SU, o objetivo estratégico, passou a ser a luta por “uma Europa social e solidária”, “uma Europa pacífica e solidária” em oposição à “Europa financeira e não democrática”. 21
Após descrever o fim da URSS, as novas instituições da globalização, o problema da reestruturação produtiva, Bensaïd propôs uma visão e um programa completamente reformistas, nos moldes do conceito liberal de cidadania universal e da utópica democratização e humanização do capitalismo, ideias que, pouco depois, foram amplamente difundidas em espaços como os Fóruns Sociais Mundiais:
“Pode-se conceber outra forma de cooperação e de crescimento do pla-neta: organismos reguladores internacionais substituindo o BM/FMI/OM-C/G-7; organismos que promovam o comércio internacional entre países de produtividade similar; transferência planejada de riqueza dos países que a acumularam durante séculos em detrimento dos países pobres; novos dispo-sitivos para regular as trocas que permitam projetos de desenvolvimento di-ferenciados, desconexão parcial e controlada do mercado mundial e uma política de preços correta; uma política migratória negociada neste contexto.” 22
Como parte da ideia de um mundo regulado e negociado, no momento de “reformular os primeiros contornos de uma proposta que conduza a uma contestação de conjunto da ordem estabelecida”, Bensaïd continua enunciando os pontos centrais do que ele chama de “programa de transição”. No entanto, o leitor rapidamente perce- be que o conteúdo de tal programa não passa de um programa mí- nimo socialdemocrata, marcado pela completa ausência de qualquer medida anticapitalista. A citação, embora extensa, é importante por sua clareza:
“a) Cidadania/democracia (política e social): em relação à universalidade dos direitos humanos proclamados, direitos civis e igualdade de direitos (imigrantes, mulheres, jovens), direitos civis e direitos sociais (igualdade ho-mens/mulheres); direitos sociais e serviços públicos;
b) Contra a ditadura do mercado, suas consequências a curto prazo, sua lógica de desigualdades; direito à vida, a começar pelo direito ao emprego e à garantia de renda mínima; reinvestimento de lucros de produtividade (serviços de educação, saúde, habitação) com a expansão da gratuidade e ingerência no direito de propriedade privada. Direito de cidadãos/cidadãs à propriedade social das grandes empresas cujas opções e decisões tenham um impacto maior sobre suas condições de vida presentes e futuras. Esse direito não implica necessariamente uma nacionalização, mas uma socializa-ção efetiva (direito ao uso autoadministrado, descentralização, planificação);
c) Solidariedade entre gerações (proteção social, ecologia);
d) Solidariedade sem fronteiras: desarmamento, dívida, constituição de espaços políticos regionais, internacionalização dos direitos sociais.” 23
Bensaïd chega a falar sobre a tarefa de reelaborar o programa de transição. No entanto, evidentemente, a partir do que lemos acima, sua proposta não tem nada a ver com o objetivo estratégico nem com o método usado por Trotsky. Bensaïd afirma estar disposto a encon-trar as novas pontes entre as reivindicações imediatas e a conquista do poder. Entretanto, apressa-se a dizer: “mas essas pontes e passarelas são, por enquanto, muito precárias”. 24 O problema central não é que as pontes sejam precárias, mas que o ex-SU, como Trotsky dizia, não tem “o objetivo de chegar à outra margem”. 25 Isso se demonstra no fato de que, após os processos do leste, abandonaram a concepção marxista de Estado e a estratégia da luta pelo poder operário, a dita-dura do proletariado, nada menos do que o centro do programa mar-xista. Sobre este assunto, dando uma piscadela para teorias como as de Toni Negri ou Holloway, Bensaïd chega inclusive a perguntar:
“Onde está o poder? Ainda concentrado nos aparatos do Estado, mas também delegado a instituições regionais e internacionais. […] Hoje, a disso-ciação dos poderes políticos e econômicos, a dispersão dos centros de deci-são e dos atributos de soberania (em nível local, nacional, regional, mundial) fazem com que as passarelas projetadas a partir das reivindicações imedia-tas partam em direções diferentes.” 26
A questão de se saber se os processos do leste foram ou não uma derrota histórica é um debate aceitável entre marxistas. É uma dis-cussão sobre correlação de forças. Para nós, não houve tal derrota histórica. Essa não é, contudo, a discussão. O nó principal é que, mesmo que o ex-SU tivesse razão e houvesse ocorrido tal catástrofe, o seu abandono do programa revolucionário e da construção de partidos leninistas não se justificaria de forma alguma. Seu critério, diante de uma possível derrota ou situação muito desfavo-rável, é oposto, uma vez mais, ao de Lenin e Trotsky. Analisemos dois exemplos disso:
- Existe consenso quanto ao fato de que a eclosão da I Guerra Mundial, em 1914, foi uma grande derrota do proletariado europeu e mundial. A II Internacional e os principais partidos socialdemocratas, a direção inquestionável da classe operária, destruíram-se nessa ocasião como orga-nizações marxistas. A classe operária europeia, traída por essa direção, se dividiu e entrou na guerra imperialista, servindo como bucha de canhão para suas burguesias. O “retrocesso” no nível de consciência das massas chegou a tal ponto que os trabalhadores assassinavam-se uns aos outros em favor dos interesses de suas burguesias imperialistas. Não poderia haver perspec-tiva mais sombria. E, contudo, qual foi a atitude e a política de Lenin diante dessa derrota gravíssima? Adaptar o programa ao nível de consciência da classe operária naquele momento? Nada disso. Ele denunciou o colapso da II Internacional e convocou a construção da III Internacional revolucionária. Convocou os operários a transformar a guerra interimperialista em guerra civil contra os seus governos, mesmo que tal proposta não fosse sequer inte-ligível para a maioria dos operários europeus. Se Lenin houvesse raciocinado e atuado como o ex-SU, a partir de uma premissa similar, simplesmente a Revolução de Outubro não teria existido.
- O mesmo aconteceu quando o stalinismo completou a contrarrevolução política na ex-URSS, corrompeu a III Internacional e culminou sua traição suprema ao levar ao desastre a revolução alemã em 1933, facilitando a ascensão de Hitler. O que fez Trotsky diante de tamanha derrota da classe operária alemã e internacional, que significou a degeneração da III Internacional e a ascensão do nazismo? A classe operária e o punhado de revolucionários que não se curvaram diante do imenso poder de Stalin atravessavam o pe-ríodo de mais graves derrotas, traições e perseguições. Foi a “meia-noite do século 20”. Leon Trotsky, no entanto, chamou a construção da IV Internacional para manter vivo o programa revolucionário contra a burguesia mundial, o stalinismo e até mesmo contra os céticos de seu próprio movimento. As lições de nossos mestres refutam completamente a lógica usada pelo ex-SU, assimilada hoje pela maior parte da esquerda.
Programa, direções e consciência
Para Bensaïd, o programa que as direções do movimento de massas apresentam é uma expressão da consciência das massas:
“É surpreendente constatar que o programa do PT brasileiro foi muito mais moderado do que o programa reformista radical da Unidade Popular chilena de 1970 ou do que alguns programas radicais em alguns países europeus (redução da jornada de trabalho, direito dos imigrantes, suspensão da dívida e desmilitarização) e, muitas vezes, muito mais rebaixado do que os programas reformistas dos anos [19]70, pelo menos em sua forma escrita (nacionalização, elementos de controle e autogestão).” 27
De acordo com esta lógica, a traição de partidos como o PT brasileiro seria responsabilidade não de sua direção burocrática, mas de um atraso da consciência do movimento operário. A traição deveria ser atribuída não à natureza dos aparatos contrarrevolucionários, mas sim à “crise do projeto socialista”, uma característica da nova época.
Assim, o ex-SU acabou abandonando a compreensão trotskista do papel das direções e da crise de direção revolucionária.
A razão de ser e o conceito central do Programa de Transição resumem-se na premissa de que: “a crise da direção do proletariado, que se transformou na crise da humanidade, só pode ser resolvida pela IV Internacional”. 28 Bensaïd, em seu informe, iguala a “crise de direção revolucionária” com a “crise do movimento operário”. Ou seja, as direções são a expressão da época. Neste caso, seria expressão da derrota do movimento operário e do retrocesso de sua consciência. Não seriam os aparatos contrarrevolucionários que passaram descaradamente para a ordem capitalista, mas sim as massas que estão confusas e atrasadas. Da mesma forma, o programa pró-burguês de partidos como o PT ou a social-democracia europeia não seriam produto de sua natureza contrarrevolucionária, mas um reflexo da nova época histórica.
Este não foi o critério de Trotsky. Para o fundador da IV Internacional, a crise da direção revolucionária obedecia a fatores objetivos: a existência e força concreta (maior ou menor) dos aparatos contrarrevolucionários e da direção revolucionária. Independentemente do que pensassem os operários, as ações do stalinismo e dos aparatos contrarrevolucionários sempre estavam orientadas para evitar, a qualquer custo, o desenvolvimento da direção revolucionária, valendo-se ora de campanhas ideológicas, do engano e da calúnia, ora da repressão aberta.
Foi exatamente sobre a relação entre a consciência do movimento operário e a direção revolucionária que Trotsky polemizou contra os defensores do Partido Operário de Unificação Marxista (POUM) espanhol no artigo Classe, partido e direção. Os apologistas do POUM diziam – da mesma forma como os liberais culpavam o povo pelo governo que tinham – que as massas tinham “a direção que merecem”. Algo similar às teses do SU, que esgrimem a imaturidade do proletariado e a suposta correlação de forças desfavorável para justificar o seu programa reformista.
“O mesmo método dialético deve ser utilizado para tratar a questão da direção de uma classe. Como os liberais, nossos sábios admitem tacitamente o axioma segundo o qual cada classe tem a direção que merece. Na verdade, a direção não é, em absoluto, o “simples reflexo” de uma classe ou o produto de seu próprio poder criativo. Uma direção é formada no curso dos choques entre as diferentes classes ou do atrito entre as diferentes camadas dentro de uma mesma classe. Mas, assim que aparece, a direção, inevitavelmente, eleva-se sobre a classe e, por este fato, arrisca-se a sofrer a pressão e a influência de outras classes.
“O proletariado pode “tolerar” por bastante tempo uma direção que já tenha sofrido uma degeneração interna completa, mas que não tenha tido a chance de demonstrar isso no decorrer de grandes eventos. É necessário um grande choque histórico para revelar de forma aguda a contradição que existe entre a direção e a classe. Os choques históricos mais potentes são as guerras e as revoluções. Por essa razão, a classe trabalhadora é, muitas vezes, pega de surpresa pela guerra e pela revolução. Mas, inclusive quando a antiga direção já revelou sua própria corrupção interna, a classe não pode improvisar imediatamente uma nova direção, especialmente se não herdou do período anterior quadros revolucionários sólidos, capazes de tirar proveito do colapso do velho partido dirigente. A interpretação marxista, isto é, dialética e não escolástica, da relação entre uma classe e sua direção não deixa pedra sobre pedra dos sofismas legalistas de nosso autor.” 29
Como se estivesse respondendo de antemão àqueles que, como Bensaïd, atribuem as derrotas e determinam o seu programa a partir do retrocesso geral da consciência ou à mera relação de forças, Trotsky expõe o problema de “como se deu o amadurecimento dos operários russos”:
“A maturidade do proletariado é concebida como um fenômeno puramente estático. No entanto, no decurso de uma revolução, a consciência de classe é o processo mais dinâmico que pode ocorrer, o que determina diretamente o curso da revolução. Era possível, em janeiro de 1917 ou mesmo em março, após a derrubada do czarismo, dizer se o proletariado russo havia “amadurecido” o suficiente para tomar o poder dentro de oito a nove meses? A classe operária era, naquele momento, totalmente heterogênea social e politicamente. Durante os anos de guerra, tinha sido renovada em cerca de 30 ou 40%, a partir das fileiras da pequena burguesia, frequentemente reacionária, à custa dos camponeses atrasados, à custa das mulheres e dos jovens. Em março de 1917, apenas uma insignificante minoria da classe operária seguia o partido bolchevique e, além disso, em seu seio, reinava a discórdia. Uma esmagadora maioria de operários apoiava os mencheviques e os socialistas revolucionários, ou seja, os sociais-patriotas conservadores. A situação do exército e do campesinato era ainda mais desfavorável. Devemos acrescentar, ainda, o baixo nível cultural do país, a falta de experiência política das camadas mais amplas do proletariado, especialmente nas províncias, para não mencionar os camponeses e soldados. Qual foi o trunfo do bolchevismo? No início da revolução, apenas Lenin tinha uma concepção revolucionária clara, elaborada até mesmo nos mínimos detalhes. Os quadros russos do partido estavam espalhados e bastante desorientados. Mas o partido tinha autoridade sobre os operários avançados e Lenin tinha grande autoridade sobre os quadros do partido. Sua concepção política correspondia ao desenvolvimento real da revolução e ele a ajustava a cada novo acontecimento. Esses elementos dos trunfos do bolchevismo fizeram maravilhas em uma situação revolucionária, isto é, nas condições de uma luta de classes encarniçada. O partido alinhou rapidamente sua política para fazê-la corresponder à concepção de Lenin, isto é, ao verdadeiro curso da revolução. Graças a isso, encontrou um forte apoio entre dezenas de milhares de trabalhadores avançados. Em poucos meses, com base no desenvolvimento da revolução, o partido foi capaz de convencer a maioria dos trabalhadores do acerto de suas palavras de ordem.
«Esta maioria, por sua vez, organizada nos soviets, foi capaz de atrair os operários e camponeses. Como poderíamos resumir este desenvolvimento dinâmico, dialético, usando uma fórmula sobre a “maturidade” ou “imaturidade” do proletariado? Um fator colossal da maturidade do proletariado russo, em fevereiro de 1917, era Lenin. Ele não tinha caído do céu. Encarnava a tradição revolucionária da classe operária. Uma vez que, para que as palavras de ordem de Lenin encontrassem o caminho das massas, era necessário que existissem quadros, por mais fracos que fossem no início, era necessário que estes quadros tivessem confiança em sua direção, uma confiança baseada na experiência passada. Rejeitar estes elementos de seus cálculos é simplesmente ignorar a revolução viva, substituí-la por uma abstração, a “relação de forças”, já que o desenvolvimento das forças não deixa de se modificar rapidamente sob o impacto das mudanças na consciência do proletariado, de modo que as camadas avançadas atraem as mais atrasadas, e a classe adquire confiança em suas próprias forças. O principal elemento, vital, desse processo é o partido, da mesma forma que o elemento principal e vital do partido é a sua direção. O papel e a responsabilidade da direção em uma época revolucionária são de importância colossal.” 30
Os partidos amplos e as consequências do giro pós-Leste
Para a visão do SU desde 1995, era tamanho o retrocesso da consciência no mundo que não era mais possível manter a construção de partidos leninistas com um programa revolucionário como o centro de sua atividade. Por isso, a partir daí, a proposta foi organizar revolucionários e reformistas honestos no mesmo partido. Esse projeto levou-os a dissolver a antiga Liga Comunista Revolucionária (LCR) francesa, em 2004, e a formar o NPA, um partido eleitoral que opera com base no programa que eles consideram aceitável pelos reformistas honestos.
A ironia da história é que resolveram fazer isso para melhor dialogar com os trabalhadores na nova época, em 1995. Porém chegaram a essa conclusão justamente no momento em que o trotskismo francês começou a ter êxito no terreno eleitoral: a organização Lutte Ouvrière (Luta Operária) obteve 5,2% na eleição presidencial de 1995, e o trotskismo chegou a 10% nas eleições presidenciais. A própria LCR teve 4,25% em 2002, mostrando como sua análise sobre a consciência estava equivocada. Essa visão de mundo levou-os a um retrocesso real. A LCR, a antiga seção francesa do SU, rebaixou o seu programa e se dissolveu no NPA, procurando se aproximar desse nível de consciência e, agora, está sofrendo uma profunda crise ao ser superada pelos reformistas da Frente de Esquerda. Os militantes do ex-SU na França não são sequer a sombra do que era a antiga LCR no início dos anos 2000.
Avançaram nessa dinâmica e, hoje, aceitam programas ainda mais rebaixados do que o do NPA. Armados com suas elaborações pós-Leste, transformaram-se em entusiastas e promotores dos partidos neorreformistas, aceitando seus programas de defesa da democracia burguesa radicalizada. É o caso do Podemos (em que também dissolveram o seu partido, a Esquerda Anticapitalista, diante das ameaças de Pablo Iglesias) e do Bloco de Esquerda português (em que também se dissolveram).
Os militantes do SU já sequer propõem o conceito de anticapitalista para a formação desses partidos. Basta ser antiausteridade. Para eles, esses partidos neorreformistas são a alternativa possível nesta época. A proposta do ex-SU não é o entrismo, mas sim entrar e ser parte permanente desses partidos e de sua direção. Como prova, é revelador ler as declarações de Teresa Rodríguez e Miguel Urbán, dirigentes da Esquerda Anticapitalista do Estado Espanhol, quando proclamam orgulhosos que foram fundadores do Podemos, partido ao qual saúdam por ter canalizado uma “tempestade de entusiasmo pela mudança” e por ser uma “ferramenta de protagonismo popular e cidadão”, bem como “uma ferramenta eleitoralmente mais fluída”. 31
Notas:
- Referente à corrente política fundada pelo argentino Nahuel Moreno, um dos mais importantes dirigentes trotskistas. ↩︎
- Referente ao dirigente trotskista do SU Michel Pablo, pseudônimo do grego Michel Raptis. ↩︎
- Ernest Mandel (1923-1995): foi um importante dirigente trotskista, economista e político alemão. Passou a maior parte de sua vida e militou na Bélgica. Também era conhecido pelos pseudônimos Ernest Germain, Pierre Gousset, Henri Vallin, Walter entre outros. ↩︎
- LIT-CI. Conferencia de fundación. Resoluciones y documentos. São Paulo: Ediciones Marxismo Vivo, 2012, p. 150. ↩︎
- Bensaïd afirmou em 2004: “Na realidade, os grandes sujeitos da mudança revolucionária – sobretudo os três Ps maiúsculos: Povo, Proletariado e Partido – foram fantasmas como grandes sujeitos coletivos. […] O problema hoje deveria ser colocado de outro modo: como, a partir de uma multiplicidade de protagonistas que são capazes de se unir por um interesse negativo – de resistência à mercantilização e privatização do mundo – conseguir uma força estratégica de transformação sem recorrer a esta duvidosa metafísica do sujeito […]”. BENSAÏD, Daniel. Entrevista inédita. Disponível em: http://www.vientosur.info/spip.php?article8797 ↩︎
- Hugo Chávez (1954-2013), presidente da Venezuela entre 1999 e 2013. ↩︎
- LIT-CI. Conferencia de fundación. Resoluciones y documentos. São Paulo: Ediciones Marxismo Vivo, 2012, p. 65. ↩︎
- Ibid, p. 65. ↩︎
- Ibid, p. 66. ↩︎
- Fidel Castro (1926-2016), líder da revolução cubana, primeiro-ministro e presidente de Cuba entre 1959 e 2008. ↩︎
- Refere-se aos seguidores das ideias e políticas de Augusto César Sandino (1895-1934), que dirigiu a revolta contra a presença militar dos Estados Unidos na Nicarágua, iniciada em 1927. ↩︎
- Violeta Chamorro (1929-): política nicaraguense que se integrou à Junta de Governo de Reconstrução Nacional, assumindo o controle do país por um breve período após a revolução de 1979. A junta levou a revolução à derrota. ↩︎
- BENSAÏD, Daniel. Una nueva época histórica, julho de 1995. Disponível em: http://www.danielbensaid.org/Una-nueva-epoca-historica?lang=fr ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- TROTSKY, Leon. O Programa de Transição. ↩︎
- BENSAÏD, Daniel. Ibid. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- TROTSKY, Leon. O Programa de Transição. ↩︎
- TROTSKY, Leon. Classe, partido e direção. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- RODRÍGUEZ, Teresa; URBÁN, Miguel. Dos años de PODEMOS. Disponível em: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/5852/dos-años-de-podemos ↩︎
Publicado em novembro de 2016 na revista Marxismo Vivo N. 8