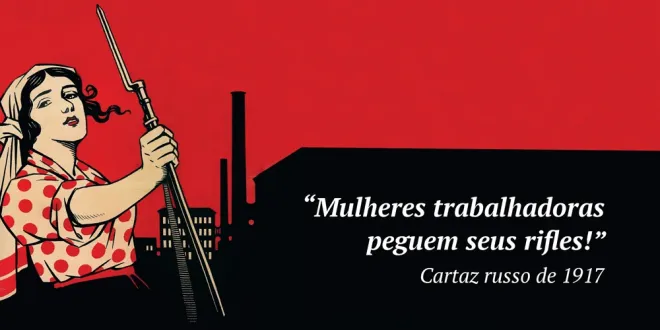Introdução
Em nosso seminário sobre a opressão da mulher, em dezembro de 2014, ocorreu uma rica discussão e algumas controvérsias acerca da teoria da Revolução Permanente e de sua articulação com as lutas dos oprimidos. Nestes artigos, procuramos resumir a nossa intervenção no seminário.
Por José Welmowicki e Alicia Sagra
A Revolução Permanente é fundamental para a intervenção dos revolucionários em todas as áreas, pois é a teoria da revolução socialista internacional que combina diferentes tarefas, etapas e tipos de revoluções. Além disso, é a teoria que articula as relações entre as tarefas e os sujeitos no processo da revolução socialista mundial. Por isso, sem a compreensão do conceito de revolução permanente, torna-se impossível elaborar uma estratégia correta para a revolução e para a organização da classe operária e dos setores oprimidos.
A origem da teoria
Originada com a revolução de 1905, esta teoria trouxe uma nova interpretação da dinâmica da revolução em países atrasados, embora em 1905 ela tenha sido formulada apenas para a Rússia. Até então, associava-se a possibilidade de uma revolução socialista aos países com maior desenvolvimento capitalista. Consequentemente, em toda a II Internacional acreditava-se que os países maduros para a revolução socialista eram Inglaterra, França e Alemanha.
Leon Trotsky, apoiando-se nas elaborações de Parvus e em textos de Marx sobre a revolução alemã de 1848, ao fazer o balanço da revolução de 1905, elaborou o que se tornaria uma nova visão na social-democracia, acerca da dinâmica de classes e do caráter da próxima revolução russa.
Qual é a contribuição de Trotsky com a Teoria da Revolução Permanente?
Tanto na primeira formulação de 1905 quanto na segunda, desenvolvida em 1929, ele estabeleceu uma relação entre as tarefas propostas e a dinâmica das classes. A burguesia já não é capaz de levar adiante, até o fim, as tarefas da revolução democrática burguesa; esta só se completará se for assumida pela classe operária, que deverá impor a ditadura do proletariado. “A dominação política do proletariado é incompatível com a situação de dominação econômica pela burguesia”, dizia Trotsky em 1905: resultados e perspectivas. Por isso, uma vez conquistado o poder político, ele passará a atacar a propriedade capitalista, a enfrentar a exploração, ou seja, combinará as tarefas democráticas com as socialistas. Em outras palavras, a dinâmica de classe conduzirá à revolução socialista. Esses dois aspectos – o proletariado como sujeito social da revolução e a combinação das tarefas – são as grandes contribuições de Trotsky, e não estavam presentes em Lenin antes de abril de 1917.
Portanto, o novo na teoria da revolução permanente não é que a classe operária deva assumir as tarefas da revolução democrática, visto que a burguesia não o fará. Apesar de essa definição ser o ponto de partida da sua elaboração, conforme o próprio Trotsky esclarece em sua obra A Revolução Permanente, ele compartilhava com Lenin a convicção de que a burguesia fosse incapaz de completar sua própria revolução. E, nesse aspecto, ambos divergiam dos mencheviques, que defendiam que a revolução fosse conduzida pela burguesia.
Entretanto, embora coincidirem no fato de que a burguesia não cumpriria sua tarefa, Lenin não definia qual classe a substituiria. Ele falava de operários e camponeses, mas sem definir qual seria o sujeito social da revolução. Junto a isso, mantinha a visão tradicional dos marxistas de sua época, de que a revolução proposta era democrática burguesa, a qual seria completada pela ditadura democrática dos operários e camponeses.
Diferentemente de Lenin, Trotsky defendia que era impossível que os camponeses se organizassem de forma independente em um partido próprio, por isso via a classe operária, por seu papel social decisivo, como a única classe que poderia levar adiante a revolução democrática, mesmo com seu número reduzido na Rússia. E, a partir do sujeito social da revolução, concluía que, uma vez no poder, não seria possível limitar-se às tarefas da revolução burguesa. Assim, a revolução democrática burguesa se transformaria em socialista.
Já na versão de 1929, Trotsky incorpora à teoria da revolução permanente aquilo que representava outra grande diferença em relação a Lenin em 1905: o partido centralizado como sujeito político da revolução. Dessa forma, no item 2 das Teses de 1929, ele postula que somente o proletariado, como seu líder, aliado aos camponeses e dirigido por um partido revolucionário, pode concluir de forma efetiva as tarefas democráticas e instaurar a ditadura do proletariado, que assumirá, ademais, as tarefas socialistas.
Queremos reafirmar, então, que para Trotsky, o caráter da revolução é permanente, não porque as tarefas democráticas, por si só, aprofundadas, conduzam à revolução socialista, mas porque há uma relação direta com o sujeito social que pode efetivamente levar adiante essa revolução. E esse sujeito social é o proletariado, que, uma vez no poder, começará a executar as tarefas socialistas.
O pós-guerra trouxe novos fatos, revoluções que expropriaram a burguesia sem que o sujeito social proletário e o partido revolucionário estivessem presentes. Isso não estava previsto por Trotsky, mas são suas elaborações – em especial a “Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado” e a hipótese teórica apresentada no Programa de Transição – que nos permitem interpretar tais acontecimentos. Foi a combinação de uma situação objetiva insustentável (guerra, derrotas, crise financeira…) com a pressão revolucionária das massas que obrigou direções da pequena burguesia, inclusive stalinistas, a ultrapassarem seu programa e expropriarem a burguesia. Essas revoluções questionam alguns aspectos das Teses da Revolução Permanente, mas não a teoria em si. Nenhuma dessas revoluções foi liderada pela burguesia; pelo contrário, foi necessário tomar o poder e expropriá-la para cumprir as tarefas principais da revolução democrática burguesa – a independência nacional e o problema da terra. Como observou Moreno:
«A teoria da revolução permanente é muito mais abrangente do que as Teses escritas por Trotsky no final dos anos vinte; é a teoria da revolução socialista internacional que combina diferentes tarefas, etapas e tipos de revoluções na marcha rumo à revolução mundial. A realidade acabou sendo mais trotskista e permanente do que o próprio Trotsky e os trotskistas previram. Produziu combinações inesperadas: apesar das falhas do sujeito (ou seja, de que o proletariado em algumas revoluções não foi o protagonista principal) e do fator subjetivo (a crise de direção revolucionária, a fragilidade do trotskismo), a revolução socialista mundial obteve triunfos importantes, chegou à expropriação, em muitos países, dos exploradores nacionais e estrangeiros, embora a direção do movimento de massas tenha permanecido nas mãos de aparatos e direções oportunistas e contrarrevolucionárias. Se não reconhecermos esses fatos, abriremos margem para interpretações revisionistas que se baseiem neles para negar o caráter de classes e político da teoria da revolução permanente.» (Tese 39 da Atualização do Programa de Transição)
Por outro lado, manteve-se o fio condutor da Teoria e das Teses: sem a classe operária e o partido, mais cedo ou mais tarde a revolução se paralisa e retrocede. Pode-se chegar até à expropriação da burguesia, mas, no fim, ela congela e retrocede. Se isso já era evidente em 1980, hoje a restauração do capitalismo na China, Cuba, Vietnã e em todo o Leste europeu está aí como a prova máxima. A ausência do proletariado na liderança e do partido revolucionário ocasionou que cada uma dessas vitórias, em vez de avançar rumo à liquidação do imperialismo em todo o planeta, fosse utilizada pelos aparatos burocráticos para frear, e até mesmo reverter, as conquistas.
Por isso, como afirma Moreno, a teoria da revolução permanente permanece viva e correta em sua essência, mantendo seu caráter de classes e internacionalista: tal como Trotsky postulou, somente a classe operária e o partido na liderança podem conduzir a revolução socialista mundial até derrotar o imperialismo e estabelecer o socialismo em escala global.
O pós-guerra e os efeitos sobre o trotskismo
Esses acontecimentos do período pós-guerra levaram a muitas revisões no interior do trotskismo. Órfãos de direção pelo assassinato de Trotsky, os jovens e inexperientes quadros que estavam à frente da IV Internacional sucumbiram ao impressionismo, sob a pressão da esquerda de corte stalinista, fortalecida pelo triunfo contra o nazismo e pelo surgimento dos novos estados operários burocráticos. Foi o momento em que Mao, Ho Chi Minh e, pouco depois, Fidel Castro, emergiram como referências.
O que dizia o Secretariado Internacional da IV, sob a direção de Pablo?
A posição era de que aquelas direções não eram contrarrevolucionárias, mas sim direções centristas que, como produto da pressão das massas, poderiam se tornar revolucionárias. Essa mudança de 180º nas posições da IV levou a uma profunda crise. Essa visão – que identificou o que se chamou de “pablismo” – foi combatida pela corrente de Moreno e pelo SWP dos EUA durante 1952-1953.
Mais tarde, o Secretariado Unificado (SU), formado em 1963 sob a direção de Mandel, continuou a revisão, atribuindo a direções pequeno-burguesas, como o Partido Comunista chinês de Mao, e ao castrismo, um papel revolucionário, dando origem à tendência guerrilheira que foi enfrentada tanto por Moreno quanto pelo SWP.
Contudo, as posições foram se alterando. A evolução subsequente do SU unificou o mandelismo com o SWP, abandonando o critério leninista para caracterizar as direções por seu programa e caráter de classe. Para eles, uma direção da pequena burguesia ou stalinista pode se transformar em revolucionária. Confundiram o que era produto da combinação entre a radicalização das massas e uma situação extrema de crise catastrófica – guerras, etc. – que as impulsionava adiante, com um suposto caráter revolucionário dessas direções. Em especial, aplicaram esse critério para definir o castrismo, do qual opinavam que, por não derivar do stalinismo, podia ser considerado uma direção revolucionária por estar à frente de uma revolução que expropriou a burguesia. Fidel Castro chegou a ser identificado por Novack como um dirigente igual ou superior a Lenin.
Por outro lado, outro setor do trotskismo, como Healy, da Inglaterra, e Lambert, da França, tomando as Teses da Permanente como uma espécie de “bíblia”, não reconheceram essas revoluções como socialistas por terem expropriado as burguesias, tampouco reconheceram como tais os estados operários formados a partir delas.
O SWP revê a teoria da revolução permanente em relação aos oprimidos
Na década de 1960-1970, nos EUA, houve um grande ascenso do movimento das mulheres, liderado por diferentes correntes feministas, e um avanço do movimento negro em prol dos direitos civis, contra a discriminação racial, em um contexto no qual não havia grandes lutas operárias. Frente a essa realidade, o SWP realizou uma revisão teórica muito profunda. Trabalhamos bastante com o material de Mary Alice Waters, mas a base teórica é de Novack.
George Novack, em seu livro Democracia e Revolução (1971), introduz conceitos que, na verdade, constituem uma revisão global da teoria da Revolução Permanente.
Em primeiro lugar, ele afirma que a defesa da democracia contra seus inimigos levaria, por si só, à luta pelo socialismo, e que a estratégia revolucionária consiste em defender e expandir a democracia. No referido texto teórico-histórico, ele explica:
“Hoje em dia, as classes médias urbanas e rurais declinaram em importância econômica e social; os pequenos proprietários já não terão, por muito tempo, força independente suficiente para resistir a ataques frontais contra a democracia. Há apenas uma força social com poder suficiente para defender a democracia contra o ‘perigo claro e presente’ da reação capitalista. É a classe operária, que representa a esmagadora maioria da população. Os operários brancos, os afro-americanos e os povos do Terceiro Mundo, a juventude radical, as mulheres que se rebelam contra seu status de ‘segundo sexo’ e os intelectuais e profissionais dissidentes formam uma falange de forças que devem ser unidas em um único front para defender a democracia.” (Como defender e expandir a democracia?, Capítulo 12)
Partindo da afirmação de Trotsky de que há uma tendência crescente ao fascismo e/ou à bonapartização da democracia burguesa, Novack apresenta um posicionamento programático geral (algo que Trotsky não fez): a estratégia da revolução permanente, em democracias como a dos EUA, é lutar para defender a democracia de ataques em todas as suas dimensões; a luta pelas liberdades democráticas, contra a opressão da mulher, contra o racismo e pelos direitos da juventude, devem ser o centro – e a chave é radicalizá-las até alcançar a ditadura do proletariado. O caminho para o socialismo passa, portanto, pela defesa e ampliação da democracia burguesa. Essa luta encaminharia diretamente para a conquista do poder.
Esse conceito foi posteriormente aplicado pela direção do SWP em sua resolução sobre a luta das mulheres.
Em consonância com essa perspectiva, atribui a capacidade de dirigir a revolução a todos os setores que sofrem opressão, discriminação – a todos os oprimidos, que devem se unir em um único front para defender a democracia.
«Os marxistas abordam o problema de uma forma fundamentalmente distinta. Consideram a democracia burguesa não como um fim em si, mas como uma etapa na evolução da soberania popular, cujas conquistas progressistas precisam ser preservadas. Contudo, essas conquistas estão constantemente ameaçadas pela crescente dominação reacionária dos ricos, durante o declínio do capitalismo. Só podem ser mantidas e expandidas através da ação e organização independente das massas operárias e de todos os oprimidos contra os monopolistas e os militaristas, que devem ser direcionadas, em última análise, para despojar os primeiros do poder.» (Novack, op.cit.)
Dessa perspectiva, defende-se que o sujeito social não é exclusivamente a classe operária, mas uma soma dos sujeitos dos movimentos de massas democráticos – sem distinção de classes – que englobam o movimento negro, das mulheres, da juventude e, inclusive, a própria classe operária.
Por esse motivo, rejeita-se o critério de classe da Teoria da Revolução Permanente, conforme proposto por Moreno na Tese 39 da Atualização do Programa de Transição:
“… a direção do SWP está engajada em outro ataque à teoria trotskista da revolução permanente. Para esta nova teoria do SWP, o proletariado ou o trotskismo não são essenciais para o contínuo desenvolvimento da revolução permanente. Eles são, na melhor das hipóteses, um ingrediente a mais. A nova teoria da revolução permanente defendida pela atual direção do SWP é a teoria dos movimentos unitários progressistas dos oprimidos, e não do proletariado e do trotskismo. Todo movimento de oprimidos – se for unitário e englobar o conjunto destes, ainda que sejam de classes diferentes – é, por si só, cada vez mais permanente e conduz inevitavelmente – sem diferenciações de classe ou políticas – à revolução socialista nacional e internacional. Essa concepção é expressa, particularmente, em relação aos movimentos negro e da mulher. Todas as mulheres são oprimidas, assim como todos os negros; se se conseguir mobilizar um movimento que una esses setores oprimidos, essa mobilização não cessará e os conduzirá, através de diferentes etapas, à realização de uma revolução socialista.”
“… Para o SWP, o socialismo é uma combinação de diferentes movimentos multitudinários – sem distinção de classes – de importância semelhante: o movimento negro, o feminino, o operário, o juvenil, o dos idosos, que quase que pacificamente conduzem ao triunfo do socialismo. Se todas as mulheres marcharem juntas, isso representa 50% do país; se o mesmo ocorrer com os jovens (70% em alguns países latino-americanos, além dos operários, negros e camponeses), a combinação desses movimentos fará com que a burguesia seja encurralada – em um pequeno espaço – pois serão os adultos burgueses, homens brancos, os que se oporão à revolução permanente. É a teoria de Bernstein combinada com a revolução permanente: o movimento é tudo e a classe e os partidos nada. Essa teoria rapidamente se transforma em um humanismo anticlassista, que reivindica a práxis como categoria fundamental, em oposição à luta de classes como motor da história. Nós – em confronto com o SWP – devemos, mais do que nunca, reafirmar o caráter de classes e trotskista da revolução permanente. Nenhum setor burguês ou reformista nos acompanhará no processo da revolução permanente. Em algumas conjunturas excepcionais, quando a ação não representar uma ameaça à burguesia e à propriedade privada, poderão marchar juntos jovens burgueses e operários, mulheres burguesas e operárias, negros oportunistas e revolucionários; mas essa marcha conjunta será excepcional e não permanente. Nós continuamos a defender, de forma intransigente, a essência – tanto da teoria quanto das próprias Teses – da revolução permanente: somente o proletariado liderado por um partido trotskista pode conduzir de maneira consistente, até o fim, a revolução socialista internacional e, por conseguinte, a revolução permanente. Apenas o trotskismo pode impulsionar a mobilização permanente da classe operária e de seus aliados, principalmente os operários.”
A posição do SWP e suas propostas para a libertação da mulher
Relacionada a essa revisão teórica, surge também a revisão do conceito de opressão e a proposta do movimento unificado das mulheres, articulada por Mary Alice Waters. Em A Revolução Socialista e a Luta pela Libertação da Mulher, Waters afirma:
“A opressão da mulher é indispensável para a manutenção da sociedade de classes. Portanto, a luta de massas das mulheres contra essa opressão é uma forma de combater a dominação capitalista. As mulheres são um componente importante e um poderoso aliado potencial da classe operária na luta contra o capitalismo… Sem a mobilização de massas das mulheres, a classe operária não pode realizar suas tarefas históricas.”
Dessa forma, o apoio à construção de um movimento feminista autônomo passa a fazer parte da estratégia do partido revolucionário da classe operária.
Waters parte de uma definição equivocada: que a opressão da mulher é indispensável para a manutenção da sociedade capitalista – tema que será abordado mais adiante. Por outro lado, ela encara o conjunto das mulheres como aliadas da classe operária, defendendo que as lutas pelas tarefas democráticas, por si sós, conduzem à tomada do poder. E se as mulheres, em conjunto, sem distinção de classe, são consideradas o sujeito social de uma importante luta democrática, é estratégica a formação de um movimento feminista unificado – o que remete à proposta da Irmandade de Mulheres, defendida pelas feministas radicais.
Essa visão contrasta com a da dirigente revolucionária Clara Zetkin, que impulsionou as ações e as resoluções acerca da mulher na II e, posteriormente, na III Internacional. Em A Contribuição da mulher operária é indispensável para a vitória do socialismo, Zetkin afirmava:
“O objetivo final da luta da mulher não é competir livremente com o homem, mas conquistar o poder político pelo proletariado. A mulher operária luta lado a lado com o homem de sua classe contra a sociedade capitalista. Isso não significa que ela não deva apoiar também as reivindicações do movimento feminino burguês. Mas a conquista dessas reivindicações representa apenas um instrumento, um meio para um fim – para entrar na luta com as mesmas armas ao lado do proletariado. … A mulher operária posiciona-se ao lado do proletariado, enquanto a burguesa fica do lado da burguesia.”
Não devemos nos deixar enganar pelas tendências socialistas presentes no movimento feminino burguês: essas se manifestarão enquanto as mulheres burguesas se sentirem oprimidas, mas não além disso.
Nos anos 80, o SU incorporou e passou a defender essa visão elaborada pelo SWP, aprofundando-a e acolhendo as posições das feministas radicais. Em 1989, a então seção do SU, a LCR espanhola, desenvolveu as teses intituladas “A Rebelião das Mulheres”. Para elas, a revolução é a soma de lutas democráticas que são, por si só, anticapitalistas se forem levadas de forma radical e independente da classe e de sua direção – seja ecológica, feminista, etc.
Elas defendem que a opressão “da mulher é exercida de forma individualizada pelos ‘homens’ em conjunto”, e a esse conjunto de relações denomina-se patriarcado, alinhando-se com a posição das feministas radicais, conforme analisado no seminário e no artigo de Florence Oppen desta revista.
O sujeito social da libertação das mulheres seria “as mulheres”, isto é, todas, sem distinção de classe: “O movimento feminista surge como expressão do despertar da consciência de muitas mulheres e se configura como o sujeito determinante na luta por sua libertação” (p. 3), considerando-as parte do conjunto dos setores que se unirão até o final na luta pelo socialismo, dos quais estaria incluída a classe operária. (Tese 14: … Além disso, existem outros movimentos de libertação, e particularmente a classe operária, que para alcançar seus objetivos também deve propor a destruição do Estado… Tese 15: “também o caráter estratégico do movimento feminista, seu papel central na transformação revolucionária”. Tese 16: “As mulheres são o sujeito de sua própria libertação…”)
Ou seja, para a LCR e o SU, existem vários movimentos – o das mulheres, o da classe operária e outros que se somam na luta anticapitalista. Para a LCR, a classe operária é apenas parte desse processo, por mais importante que seja. Contudo, de forma categórica, seu papel não é o de liderar, mas o de se aliar a qualquer outro setor. Não há referência à divisão de classes dentro do universo feminino. O movimento feminista deve ser autônomo do Estado e dos demais movimentos, inclusive do movimento operário e do partido; consequentemente, o papel do partido revolucionário não é liderar nem combater as direções pequeno-burguesas, mas apenas participar ativamente do movimento autônomo das mulheres – e ponto final.
Como vimos no seminário, não estamos apenas relembrando polêmicas dos anos 70 e 80 do século XX. Essas posições continuam sendo defendidas hoje por organizações trotskistas, como o FSP (Freedom Socialist Party) dos EUA, o que mantém a atualidade desse debate.
O caráter das tarefas para a libertação da mulher e o que pode ser alcançado antes da tomada do poder
Esses dois temas também foram objeto de debate entre os marxistas no seminário.
Ficou claro que as lutas contra a opressão não são, em si, tarefas anticapitalistas, mas tarefas democráticas. Ou seja, o capitalismo não se estrutura em torno da opressão da mulher. As reivindicações relativas à igualdade feminina são demandas democráticas que ficaram pendentes. Algumas delas foram conquistadas ao longo do século XX e continuam em aberto no século XXI, ainda que permeadas por muitas desigualdades. Referimo-nos a questões democráticas como o direito de voto, a guarda dos filhos, o direito à educação, à propriedade, ao divórcio, ao aborto, em vários países.
Por outro lado, o seminário deixou claro que a luta contra a opressão da mulher é milenar e que a burguesia, mesmo tendo contribuído para o desenvolvimento das forças produtivas e criado as condições ao incorporar massivamente a mulher ao mercado de trabalho, foi incapaz de resolver a questão – nem mesmo nos países imperialistas. É decisivo compreender que isso tem a ver com o que propõe a Revolução Permanente: na época imperialista, a burguesia é incapaz de concluir até o fim qualquer uma das tarefas democráticas que ficaram pendentes da revolução burguesa – e isso inclui a opressão da mulher, que subjuga metade da humanidade.
É preciso reafirmar que, ainda mais na época imperialista, a burguesia dos países periféricos é incapaz de cumprir as tarefas democráticas. Essa incapacidade, segundo Trotsky, tem dois motivos centrais: a) a relação orgânica das burguesias com o imperialismo; b) o receio de colocar as massas, especialmente a classe operária, em movimento.
Essa incapacidade mencionada por Trotsky está relacionada à conclusão das tarefas democráticas. Contudo, a burguesia foi obrigada, em certas circunstâncias, a adotar medidas parciais para frear grandes movimentos revolucionários. Por exemplo, é do interesse de alguns setores burgueses que exista um mercado interno unificado e medidas protecionistas contra concorrentes internacionais. Houve processos de industrialização na América Latina e nacionalizações – parciais ou não – de recursos minerais. Também na América Latina, conhecida por seus golpes de estado recorrentes, em determinado momento, utilizou-se a reação democrática para desviar o avanço revolucionário.
No que diz respeito à opressão da mulher, verifica-se uma dinâmica semelhante: a burguesia é incapaz de resolver a opressão da mulher, assim como não consegue solucionar o problema do racismo, pois o capitalismo absorve todas as opressões, utilizando as diferentes situações de privilégios e desvantagens para explorar melhor os trabalhadores e os povos. Esse processo de aproveitar as desigualdades atinge seu ápice na fase decadente do capitalismo – o imperialismo – que se vale de todas as diferenças raciais, sexuais, nacionais, para explorar ainda mais. Contudo, isso não impede que, diante da radicalização e das lutas, a burguesia e o imperialismo possam fazer concessões, em especial na esfera de reivindicações formais, como o divórcio, a igualdade perante a lei, a legalização do aborto. Como vimos, essas demandas podem ser atendidas sem que o capitalismo esteja em risco. Além disso, sempre que são feitas esse tipo de concessões legais, tenta-se incorporar e cooptar setores de mulheres com a promessa de se alcançar a igualdade legal dentro do próprio sistema capitalista. Por exemplo, o direito de voto já existe na grande maioria dos países e, então, surge a convocação para a ‘participação cidadã’ das mulheres, como caminho para superar a opressão.
Esse é o pano de fundo do chamado empoderamento, das políticas de ‘gênero’ que dizem às mulheres que basta que se conscientizem de seus direitos, eduquem-se e proponham-se a assumir as tarefas dos homens, para conquistar a igualdade e acabar com a violência contra a mulher, entre outras reivindicações. Com esse objetivo, faz-se propaganda utilizando como exemplos mulheres que são ministras ou presidentes de países, como Merkel, Dilma ou Cristina Kirchner. Também estão presentes campanhas da ONU que abordam gênero e o progresso da mulher. Todas essas iniciativas mascaram o fato de que, para a imensa maioria das mulheres – as trabalhadoras e as donas de casa dos lares operários – a situação piora a cada dia, e esse é um sonho totalmente inalcançável sob o capitalismo. Pois o imperialismo, a cada dia, ataca mais as condições de vida dos trabalhadores, e as mulheres são as que mais sofrem com o desemprego, a fome, o colapso dos serviços públicos de saúde e educação, entre outros problemas graves.
Diante de tudo isso, houve consenso de que a exploração capitalista divide os oprimidos e, portanto, é equivocado considerar as mulheres como um sujeito social único na luta contra a opressão. Assim, a opressão da mulher faz parte das tarefas democráticas – das demandas que ficaram pendentes da revolução democrática – e essa questão só poderá ser plenamente resolvida com a tomada do poder em cada país e, mais precisamente, com a derrota definitiva do imperialismo e a construção do socialismo mundial e do comunismo. Assim como em outras questões democráticas não solucionadas, reafirmamos que o sujeito social é o proletariado e o sujeito político é o partido revolucionário, operário e internacionalista. Do mesmo modo, defendemos que, para avançar rumo ao socialismo, é fundamental enfrentar cotidianamente a luta contra a opressão da mulher, pois a opressão divide a classe operária, sujeito social da revolução.
Hierarquia das tarefas democráticas
Outra questão debatida foi se todas as tarefas democráticas abandonadas pela burguesia têm a mesma hierarquia ou se, para a Revolução Permanente, existem hierarquias diferenciadas.
Para nós, não há dúvidas: existe essa diferenciação hierárquica. Como afirmam as Teses da Revolução Permanente e o artigo de polêmica com Tony Cliff e o SWP da Inglaterra, de Florence Oppen, há três grandes tarefas democráticas históricas, resumidas da seguinte forma por Michel Löwy:
• A revolução agrária democrática: a abolição corajosa e definitiva de todos os resquícios de escravidão, feudalismo e regimes asiáticos despóticos, a eliminação de todas as formas pré-capitalistas de exploração (como a corveia – trabalho penoso –, trabalho forçado etc.) e a expropriação dos grandes latifundiários, com a distribuição da terra para os camponeses.
• A libertação nacional: a unificação da nação e sua emancipação da dominação imperialista; a criação de um mercado nacional unificado e sua proteção contra mercadorias estrangeiras mais baratas; o controle de determinados recursos naturais estratégicos.
• A democracia: para Trotsky, isso incluía não só o estabelecimento de liberdades democráticas, uma república democrática e o fim dos governos militares, mas também a criação das condições sociais e culturais que permitissem a participação popular na vida política – por exemplo, a redução da jornada de trabalho para oito horas e a ampliação da educação pública.
Moreno acrescenta que a única dessas tarefas que é estrutural – cuja conquista ataca a estrutura da dominação na época atual – é a libertação nacional, o que decorre, em sua própria teoria do imperialismo, do fato de que a dominação colonial e semicolonial é parte estrutural da dominação econômica e política do imperialismo, da fase atual do capitalismo mundial. Acreditamos que Moreno está correto, e isso tem a ver com a fase monopolista do capitalismo, com o fato de que um número cada vez menor de potências imperialistas exerce dominação, que houve a submissão dos antigos Estados operários, que países imperialistas passam a dominar, que as invasões e guerras coloniais continuaram durante todo o século XX e se estendem pelo século XXI.
Qual deve ser, então, a posição dos revolucionários em relação às tarefas democráticas de luta contra a opressão da mulher?
Sem dúvida, devemos encará-las como fundamentais, pois, como afirma Lenin, se os revolucionários não se apresentarem como aqueles que mais lutam por cada uma das reivindicações, não conquistarão a confiança nem conseguirão atrair as massas oprimidas para o campo da revolução. Pois, ao impulsionar a luta contra a opressão das mulheres, abrem-se as portas para mobilizar amplos contingentes de mulheres trabalhadoras e atraí-las para o campo do proletariado. Além disso, como o machismo e a opressão dividem a classe operária, é imprescindível a sua união para a conquista do triunfo revolucionário. Por isso, temos que convocar, de maneira ampla, o proletariado para assumir as bandeiras dos oprimidos – das mulheres, dos negros, dos indígenas, dos imigrantes e dos LGBT.
Isso é parte fundamental da luta para que a classe operária torne-se a líder de todos os setores oprimidos. Queremos que ela seja o dirigente dos camponeses pobres, dos setores populares urbanos e das minorias perseguidas.
No que diz respeito à opressão da mulher, assumir esse combate de forma profunda implica travar uma batalha permanente contra as direções e organizações que propagam a influência burguesa, um combate com orientação de classe, para conquistar a adesão das mulheres trabalhadoras e trazê-las para o lado da classe operária. Atualmente, quando a burguesia adota retoricamente essas bandeiras e até tenta capitalizar algumas medidas conquistadas no campo democrático, essa luta se torna ainda mais importante para enfrentar ideologias como o empoderamento, as teorias de gênero e a colaboração de classes. É necessária uma luta implacável contra essas concepções feministas, a fim de conquistar a adesão das mulheres trabalhadoras e exploradas para se unirem à classe operária.
Determinar que as tarefas contra a opressão da mulher são de caráter democrático (e, portanto, policlássicas, como alerta Clara Zetkin, já que nelas intervêm diferentes classes que sofrem essa opressão) não diminui a importância dessa luta; pelo contrário, essa precisão a fortalece, pois nos assegura que só podemos avançar na resolução dessa questão se a enquadrarmos na perspectiva da luta do proletariado pela destruição do capitalismo e do imperialismo, pelo poder da classe operária, no caminho do socialismo e do comunismo – a única forma de libertar a humanidade de toda exploração e opressão.