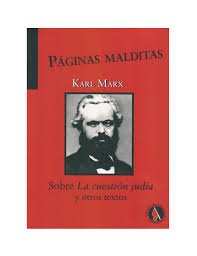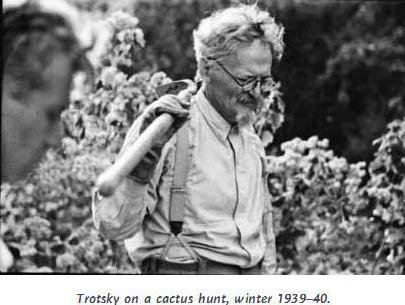O problema moral torna-se a cada dia mais candente em todos os âmbitos da vida, mas principalmente na militância de esquerda. A moral das organizações revolucionárias está sob permanente pressão da moral burguesa, sobretudo em uma época de decadência como a que vivemos. Recuperar e manter a moral revolucionária é uma necessidade de vida ou morte para a luta por superar a crise de direção revolucionária mundial e parte essencial na batalha pela reconstrução da IV Internacional. Nesse sentido, a LIT apresenta em seu próximo Congresso essa discussão tão fundamental, da qual publicamos aqui os pontos essenciais.
Por: José Welmowicki
«A Quarta Internacional despreza os magos, charlatões e professores da moral. Numa sociedade baseada na exploração, a moral suprema é a da revolução socialista. Bons são os métodos que elevam a consciência de classe dos operários, a confiança em suas forças e seu espírito de sacrifício na luta. Inadmissíveis são os métodos que inspiram o medo e a docilidade dos oprimidos contra os opressores, que afogam o espírito de rebeldia e de protesto ou que substituem a vontade das massas pela dos chefes, a persuasão pela coação e a análise da realidade pela demagogia e pela falsificação. Eis aqui por que a social-democracia, que tem prostituído o marxismo tanto quanto o stalinismo, antíteses do bolchevismo, são os inimigos mortais da revolução proletária e da moral da mesma.» (Leon Trotsky, Programa de Transição)
INTRODUÇÃO
A importância da questão moral
Provavelmente, muitos companheiros se surpreenderão por termos colocado na pauta do nosso Congresso Mundial a discussão de um documento sobre a questão moral. Nossos congressos sempre discutem documentos políticos, balanços e projetos de atividades. E sempre há um ponto onde a Comissão de Controle Internacional (CCI) apresenta um informe dos problemas morais concretos do último período e as possíveis apelações sobre os processos decididos por ela. Mas a discussão teórica e política do tema moral não costuma ser parte da pauta dos nossos congressos.
O que nos levou a introduzir um ponto sobre este tema no próximo congresso? Em primeiro lugar, é claro que existem sintomas cada vez mais evidentes da decomposição moral não só na sociedade capitalista, mas também nas organizações operárias. Mas isso, mesmo que seja um tema importante, não nos levaria necessariamente a colocá-lo na pauta do Congresso. Entretanto, no último período detectamos várias evidências de que esta decomposição moral vem afetando nossa Internacional. Apesar da nossa tradição em tratar com muita seriedade os problemas morais, constatamos a existência de graves problemas neste terreno também na LIT: casos de quadros que se apoderaram do patrimônio da organização; agressões morais e até físicas a companheiras e, inclusive, o caso de um dirigente que se recusou a comparecer perante à CCI para responder a uma grave denúncia de violência contra sua ex-companheira, chegando a fazer com que uma seção da LIT, o MST boliviano, rompesse com a Internacional.
Este não é um problema interno. Reflete um processo mais geral: a decadência da sociedade capitalista. Vemos que este tipo de problema tem uma expressão generalizada na esquerda, inclusive a que se reivindica revolucionária.
Vemos uma realidade lamentável nas organizações de esquerda, praticamente em todos os países, com brigas, inclusive físicas, para controlar entidades em função de seus aparatos, corrupção, fraudes e todo tipo de manobras desleais e ações destrutivas.
Vemos que essas discussões na esquerda raramente são esclarecidas e aparecem como lutas surdas que, de repente, explodem em rupturas ou lutas fracionais com acusações morais etc. Ou são varridas para “baixo do tapete”, em especial se envolvem dirigentes.
Acreditamos que nossa preocupação pode causar dúvidas em muitas organizações, inclusive aquelas com as quais temos acordos políticos importantes. Mas queremos abrir francamente a discussão, reconhecendo nossos problemas e chamando para uma reflexão. Poderíamos evitar abrir estas discussões publicamente e optar por discuti-las somente entre nós. Porém queremos que aqueles que têm relação conosco nos conheçam em todos os aspectos, com nossos problemas reais e que, se temos um mérito, é o de não ocultá-los, de identificá-los e buscar combatê-los de forma aberta.
Sabemos que a moral das organizações revolucionárias está sob permanente pressão da moral burguesa, ainda mais numa época de decadência na qual vivemos.
Temos orgulho da nossa trajetória e, também neste terreno, reivindicamos os ensinamentos de Trotsky. Sendo assim, se não abrirmos com clareza e firmeza este tipo de discussão e não enfrentarmos os problemas, se baixarmos a guarda e não batalharmos por uma moral comunista em nossas organizações, provavelmente as pressões crescerão ainda mais e poderão destruir nossas organizações revolucionárias.
Por isso, acreditamos que, para cada um de nossos militantes e para todas as forças que se aproximam na batalha pela reconstrução da IV Internacional, esta discussão é fundamental.
Sem ela, não haverá uma construção sólida de um partido revolucionário nacional nem da Internacional que tanto aspiramos.
Alguns problemas morais que afetaram a LIT no último período
Nosso último congresso reafirmou, por unanimidade, a expulsão de um ex-dirigente de uma seção por se apoderar de dinheiro que um simpatizante havia doado ao partido. Pouco depois do congresso de 2005, a CCI teve de investigar uma gravíssima acusação contra um ex-membro do CEI e da SI, que incluía agressões contra sua companheira. Este companheiro tinha sido enviado para militar na seção boliviana e, nesse momento, era seu principal dirigente. Ele negou-se a responder à CCI e teve o apoio de toda a direção da seção, inclusive do membro da CEI daquele país, que se colocou incondicionalmente em defesa desse dirigente e da sua negação em se submeter à CCI.
A ampla maioria da LIT reagiu de forma principista em todos esses casos. É importante sinalizar que somos uma organização revolucionária que pode se orgulhar de ter tido uma posição principista em defesa da moral revolucionária quando a maioria das organizações de esquerda, inclusive as que se reivindicam trotskistas ou revolucionárias, sucumbiram às pressões oportunistas também neste terreno. Entretanto, temos de reconhecer que não havíamos identificado o fenômeno de conjunto e nem lhe demos a devida importância. Da mesma forma, não hierarquizamos a necessidade de enfrentá-lo.
Por que a moral revolucionária é decisiva na construção do partido revolucionário e da IV?
Inclusive constatando esta realidade, é preciso entender por que devíamos hierarquizar esta discussão neste congresso da LIT. Muitas vezes, encontramos entre os companheiros mais jovens a ideia de que os comunistas não têm uma moral, que este é só um discurso da classe dominante. Definamos então que é moral e o que queremos dizer com “moral revolucionária”.
O que é moral?
A moral é uma necessidade para qualquer agrupamento humano, como explicava Nahuel Moreno. 1 Toda estrutura social tem necessidade de normas para sua sobrevivência e sua defesa. Por sua vez, a moral é fruto do desenvolvimento social. Ao contrário do que dizem os ideólogos da burguesia, não existe uma moral universal e eterna, já que ela muda de acordo com as distintas formações sociais, suas relações de produção e as respectivas formas ideológicas e normas morais ao longo da história da humanidade. Isso é o que explica as diferenças entre a moral dominante em sociedades como as escravistas, as feudais ou as capitalistas. Explica, também, por que toda classe dominante necessita impor sua moral aos explorados para garantir seu domínio sobre a sociedade.
Esta questão leva à discussão sobre a existência ou não de normas universais aceitas desde sempre pelo ser humano. Como se perguntava Trotsky em A moral deles e a nossa:
“Não existem regras elementares de moral, desenvolvidas pela humanidade em sua totalidade, e necessárias para a vida de todo o coletivo?«
E respondia:
“Existem, sem dúvida, mas a virtude de sua ação é extremamente limitada e instável. As normas ‘universalmente válidas’ são tanto menos atuantes quanto mais agudo é o caráter que toma a luta de classes. Sua validade está ligada à situação da luta de classes. Em tempos de ‘paz’, o homem ‘normal’ observa o mandamento ‘não matarás’; mesmo assim mata em condições excepcionais de legítima defesa. Em tempos de guerra, seja guerra entre estados, seja civil, o Estado muda as normas ‘universalmente válidas’ de ‘não matarás’ para seu contrário.” 2
Ou seja, as normas morais «universalmente válidas» são carregadas de um conteúdo de classe. Isso é o mesmo que dizer que são antagônicas. Nas palavras de Trotsky: «A norma moral torna-se mais categórica quanto menos ‘universal’ é”.
A burguesia tem um interesse vital em impor sua moral às classes exploradas. Como todas as classes dominantes anteriores, utiliza a moral como instrumento de conservação da sociedade e a impõe para demonstrar que é «eterna». Necessita impor sua moral à classe explorada, mas existe uma incoerência entre o que prega e sua prática.
Aí entra em cena a questão da «dupla moral», que se expressa na hipocrisia típica das igrejas. A burguesia utiliza uma dupla moral que fala de «igualdade» e «bem comum», mas estimula o individualismo e o egoísmo. Reivindica que todos sejam cidadãos exemplares em suas vidas privadas e preocupados com o bem comum enquanto explora e vive da miséria de milhões. Fala-se de uma norma… mas não é para eles. É o famoso «faça o que eu digo, não faça o que eu faço
Toda a classe explorada, sobretudo a classe operária, que é o sujeito social da revolução socialista, necessita de um programa e de uma organização e também de uma moral oposta pelo vértice à moral burguesa dos exploradores. Respondendo às acusações dos burgueses e dos kautskistas de que os bolcheviques não têm moral, Lênin reafirmava: «quando nos falam de moral, dizemos: para um comunista, toda moral reside nesta disciplina solidária e unida e nesta luta consciente das massas contra os exploradores. Não acreditamos numa moral eterna, denunciamos a mentira de todos os contos sobre moral. A moral serve para que a sociedade humana se eleve à maior altura, para que se desembarace da exploração…«
A moral proletária
A classe operária necessita de uma moral própria para lutar por seus interesses de classe. Os trabalhadores foram aprendendo com sua experiência nas greves e nos primeiros sindicatos que, sem um forte espírito coletivo, sem uma moral de classe, seria impossível enfrentar a burguesia com sua força econômica e seu aparato repressor. No começo do movimento operário na Europa, foi construída uma moral típica da classe proletária: a noção da solidariedade de classe no âmbito de uma fábrica, de um país e à escala internacional. Ela está extremamente ligada à experiência histórica e concreta da classe operária: sem unidade, é impossível derrotar a burguesia, seja nas lutas cotidianas, seja nas lutas decisivas de um país. Quanto mais se desenvolvem as lutas, mais é necessário ter solidariedade com os irmãos de classe, saber impor a disciplina através de piquetes e investir contra os que querem romper essa unidade e solidariedade, como os fura-greves. Assim, noções básicas da moral da classe são deduzidas: acatar a disciplina dos trabalhadores de sua empresa, cercar de ajuda os companheiros atacados pela patronal, isolar e, se for o caso, reprimir os fura-greves etc.
A burguesia é consciente da importância desta unidade e disciplina operárias. Sabe que é uma ínfima minoria e sabe que a classe mais perigosa para sua dominação é a classe operária. Por isso, a todo o momento, trata de dividir esta classe, de cooptar indivíduos e setores dela, de opor o individualismo e o egoísmo burguês à moral da classe operária em luta, de corromper dirigentes e estimular a traição. Apoia-se na competição entre os trabalhadores para fomentar a divisão e também para impedir a constituição da moral proletária. Trata de manter a classe operária acreditando num Deus e na possibilidade de ascensão individual como saída para sua situação. Por isso, quando a classe operária entra em combate como classe, começa a romper, na prática, com a moral burguesa.
Para resumir, a moral proletária é a moral da classe operária em luta contra a burguesia. Sua base é a solidariedade e a unidade frente à classe inimiga, da qual se deduz uma série de normas, como:
- Cada trabalhador protege e apoia o companheiro de sua classe contra as perseguições da burguesia.
- Nunca se entrega nem se permite que um companheiro seja prejudicado.
- Mesmo que existam divergências, atua como classe unida diante do Inimigo. Se um indivíduo da classe viola isto, deve-se impedir e, se é necessário, reprimi-lo com a disciplina do coletivo.
- Nas relações entre companheiros, e também entre as organizações operárias, deve haver lealdade, honestidade, fraternidade e franqueza.
- Não se utilizam meios violentos para dirimir diferenças entre membros da classe ou de suas organizações.
A moral partidária
Também existe uma moral específica do partido revolucionário, chamada de «moral partidária» por Moreno. O que significa isso? O partido, um instrumento que luta para derrubar a burguesia e construir a ditadura do proletariado, precisa ainda mais de uma disciplina de ferro e uma moral superior à simples moral proletária, mesmo que parta dela.
A confiança entre todos é seu cimento essencial, é a «confraria dos perseguidos», dos que querem destruir o capitalismo e, por isso, são perseguidos e podem pagar o preço com a própria vida. Portanto, é necessária uma moral superior para manter a força deste tipo de organização, para resistir às prisões, torturas etc. A solidariedade neste campo é muito mais profunda: o companheiro é mais importante que minha própria vida. No partido, o coletivo é tudo. É o oposto à ideia típica do capitalismo: o individualismo e o egoísmo.
Ao mesmo tempo, se a moral operária exige que um membro da classe acate a decisão da maioria na luta contra a patronal, que cumpra a greve e que os fura-greves sejam freados e castigados, a moral partidária é muito mais exigente, pois é a moral dos que lutam conscientemente para destruir o imperialismo, para fazer a revolução. Ela começa pelos ensinamentos básicos da mesma moral operária, mas não basta cumprir a decisão da greve. Deve-se ser o melhor ativista, deve-se pensar no conjunto, organizar a vanguarda para que garanta a greve etc.
Para fortalecer a confiança e afiançar a moral partidária, queremos e fazemos com que cada um cresça, desenvolva-se. O partido revolucionário necessita de uma forte moral porque tem que golpear como um só homem os aparatos do Estado burguês. Tem que ser conspirativo diante do Estado e da burocracia. Isso exige uma total confiança entre os camaradas que militam no partido.
A moral revolucionária é importante para a construção da IV?
Muitos companheiros opinam que o problema da moral é importante, mas não é decisivo. Que, em última análise, as questões são políticas. Portanto, o fundamental é a discussão política ou programática e os problemas morais são secundários. Por isso, numa aproximação entre organizações, uma vez que existam acordos programáticos e políticos, não se deve reivindicar este tipo de questões como decisivas. Muitas vezes não se entende por que lhes damos tanta importância. Como mostra a história da IV, essa visão é equivocada, porque os problemas metodológicos e morais são decisivos na hora de definir os rumos e adotar medidas organizativas.
Na década de 30, a Oposição de Esquerda internacional e a IV tiveram que enfrentar os processos de Moscou, a monstruosa perseguição política e moral contra toda a geração de revolucionários bolcheviques e opositores ao stalinismo. Trotsky não teve nenhuma dúvida: era necessário reivindicar como central a resposta às calúnias e aos amálgamas que buscavam a destruição de toda uma camada de revolucionários. Sua campanha contra a «escola stalinista de falsificações» foi um divisor de águas. Se Trotsky não a houvesse enfrentado à altura, com a política do Tribunal Moral, teria sido ainda mais difícil resistir à ofensiva stalinista de associar o trotskismo ao imperialismo e ao nazismo. Deixou-nos toda uma concepção e uma metodologia que serviram para enfrentar o stalinismo e a todas as correntes que tomaram um rumo semelhante.
Até 1979, a corrente que deu origem à LIT – a Fração Bolchevique (FB) – era parte do Secretariado Unificado (SU) da IV, encabeçado por Mandel, Barnes e outros dirigentes. Havia diferenças profundas entre as posições da FB e as da maioria do SU. Havia polêmicas em todos os terrenos: sobre a ditadura do proletariado, sobre o guerrilheirismo, sobre o caráter dos partidos, sobre se devia ou não construir partidos trotskistas na Nicarágua, na América Central e em Cuba. Uma delas era sobre o caráter da direção e do governo sandinistas, com suas necessárias consequências políticas e programáticas: devia-se apoiá-los politicamente ou não? Mas a ruptura com o SU só ocorreu em 1979 e o elemento decisivo esteve no terreno dos princípios da moral proletária. A FB rompeu quando as direções do SU e do SWP se recusaram a lutar pela liberdade dos membros da Brigada Simon Bolívar presos pelo regime sandinista. Ou seja, violaram o princípio moral proletário básico de apoio e solidariedade frente à repressão de um governo burguês, neste caso o sandinista.
Moreno teve uma avaliação semelhante quando fez o balanço da ruptura com Pierre Lambert: enfatizou que, apesar das diferenças abismais sobre o caráter do governo Mitterrand e a política frente a ele, e que ele considerava ser a posição da OCI francesa uma grave capitulação a um governo de frente popular imperialista, foram os métodos stalinistas das calúnias e da expulsão de opositores, para não permitir a discussão no interior da OCI e da IV-CI, que impuseram a ruptura. A campanha da LIT, em 1982, ao redor do tribunal moral em defesa da honra revolucionária de Napurí, atacada por Lambert, foi inspirada na luta de Trotsky e da IV contra o stalinismo nos anos 1930, novamente tendo como divisor de águas a questão dos métodos e da moral.
O retrocesso moral no movimento operário e suas consequências na esquerda
Os aparatos impuseram um retrocesso moral ao movimento operário
A social-democracia foi a primeira organização de massas baseada nos princípios inscritos nos textos do Manifesto Comunista e da I Internacional. Seu crescimento e a extensão de sua influência em toda a Europa era um fato nos finais do século XIX. Junto a esse desenvolvimento da organização política, o movimento sindical da classe trabalhadora cresceu e chegou a ter uma poderosa influência nos países da Europa Ocidental.
Quando o capitalismo entrou em sua fase imperialista, a burguesia percebeu que necessitava de instrumentos dentro da classe operária que evitassem que esta derrubasse o Estado e o sistema. Surgiram os aparatos contrarrevolucionários do movimento operário para frear e aprisionar o movimento operário numa camisa de força. As burocracias sindicais e políticas, apoiadas na aristocracia operária, passaram a ser os agentes da burguesia no interior das organizações de classe do proletariado.
Ocorreu uma degeneração da social-democracia na fase imperialista, como expressão da aristocracia operária e da burocracia, que a levou a abandonar completamente não só o programa, mas também a concepção da moral proletária. Em 1914, a defesa da guerra imperialista, da «pátria sagrada», da invasão aos países coloniais e o ataque impiedoso ao novo Estado operário soviético, a partir de 1917, dava-se em nome de «princípios morais eternos» por cima das classes, de «respeito à democracia», de «respeito às leis do Estado» burguês, da «paz» etc., ou seja, a velha moral burguesa que antes denunciavam. Enquanto faziam juramentos à «moral eterna», apoiavam a repressão aos revolucionários e foram mandantes dos assassinatos de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht.
A III Internacional surgiu contra a falência da II Internacional. Inspirada pela Revolução Russa, que tomaria a bandeira da revolução socialista mundial, retomaria a noção de que é moral tudo o que sirva para unir e dar confiança à causa proletária.
O aparato contrarrevolucionário mais poderoso foi o stalinismo, expressão da burocracia que controlou o Estado operário russo depois de 1923. Foi agente de uma contrarrevolução não só no regime soviético e no programa, mas também no campo moral. As gerações atuais não têm ideia do que significou a ação do stalinismo. Ele trouxe para dentro do movimento operário a mentira, a falsificação sistemática dos fatos, a perseguição aos lutadores, a volta do patriotismo chauvinista, a divisão da classe a serviço da burguesia. A persuasão foi substituída pela coação. A análise honesta da realidade pela demagogia e pela falsificação. As calúnias e os amálgamas foram introduzidos como método generalizado no movimento operário do mundo inteiro.
O que significou o amálgama em sua utilização pelo stalinismo? Mesclar conscientemente acusações políticas e morais para manchar a honra do adversário político. Rompia-se com uma tradição moral proletária de quase um século: no caso de acusações à conduta ou à honra pessoal de um militante, estas não deviam ser misturadas com as discussões políticas contra esse militante. Stalin transformou em prática sistemática a metodologia de desqualificar o oponente, em primeiro lugar, com acusações contra seu caráter: «que tinha sido corrompido ou traído a causa», «que estava a serviço do imperialismo» e, por isso, estaria defendendo tais posições.
Stalin acusava seus adversários de «agentes sabotadores a serviço do imperialismo» e, sem dar-lhes nenhum direito à defesa sobre essa acusação concreta, passava a associar suas posições políticas divergentes ao suposto fato de serem «sabotadores do Estado operário». Portanto, argumentava o stalinismo, suas opiniões seriam simplesmente uma expressão da sua traição com o objetivo de levar a URSS ao desastre. Qualquer posição desses adversários, fosse sobre a revolução chinesa, sobre a política econômica ou outra, não seria considerada como uma divergência legítima a ser debatida, mas sim como consequência direta de sua suposta traição. Stalin fez isso com toda uma geração dos melhores quadros revolucionários da classe operária russa e mundial.
Para eliminar esses «traidores» valia qualquer método, inclusive um acordo espúrio ou secreto com o inimigo de classe. Entregar um adversário ou deixar que fosse demitido pela patronal passava a ser «parte do jogo». A tortura e o assassinato dos que ousassem contrapor-se à «linha» da burocracia dirigente ficavam assim justificados. Mas não bastava o assassinato físico; era necessário também o «assassinato moral», taxando-os de «contrarrevolucionários», em base a confissões arrancadas por meio de torturas de todo tipo.
Até o surgimento do stalinismo, esse tipo de calúnia contra os dirigentes era desprezado no movimento operário. Houve um exemplo famoso durante a revolução russa, quando Lênin voltou ao país num trem autorizado pelo governo da Alemanha. Os chacais da burguesia, do governo e do imperialismo acusaram-no de «agente a serviço da Alemanha». Não foi necessária nenhuma campanha para que Martov, líder menchevique e adversário político de Lênin, saísse em defesa de sua honra revolucionária.
A burocracia stalinista mudou completamente essa situação. A URSS era a referência do movimento operário internacional e a Internacional Comunista era poderosa. A moral proletária sofreu um duro golpe pela ação contrarrevolucionária do stalinismo. Seus crimes entregaram a bandeira para que o imperialismo fizesse uma campanha de desprestígio moral do «socialismo», que se reflete até hoje na consciência da classe operária mundial.
Esse retrocesso teve repercussões profundas no interior dos partidos e dos sindicatos. As consequências políticas foram nefastas: semeou o ceticismo, a confusão e a desconfiança entre os trabalhadores. Pois, como entender que dirigentes revolucionários de toda uma vida, lutadores de primeira linha fossem, de repente, apontados como frios traidores a serviço do inimigo de classe? Para defender seus privilégios, a burocracia precisava criar justificativas hipócritas. Nas palavras de Trotsky:
«Quanto mais brutal for a transição da revolução à reação, mais a reação depende das tradições da revolução, ou seja, mais teme as massas e tanto mais se vê forçada a recorrer à mentira e à falsificação.» 3
A degeneração do movimento operário na etapa do «vale-tudo»
Hoje, vivemos um novo período de degeneração pela decadência cada vez maior do capitalismo, que já despreza todo tipo de critério moral, inclusive aqueles que defendia em sua fase de ascenso. A decadência do capitalismo em sua fase senil provocou tamanho saque e destruição da natureza que chega ao ponto de justificar qualquer ataque aos mínimos direitos individuais para garantir seus lucros. O resultado é uma decadência moral do imperialismo no terreno das relações humanas que chegou a limites antes inimagináveis.
Essa decadência penetra no seio dos explorados e oprimidos. E o individualismo mais exacerbado em que vale prejudicar desde o colega até um familiar para conseguir um emprego ou uma vaga na universidade. É o vale-tudo da sobrevivência num mundo decadente, onde não aparece uma saída clara para as massas. A moral decadente expressa-se em «cada um com seus valores, cada um defende seus interesses a qualquer preço«
Essa situação teve seu reflexo no interior do movimento operário e da esquerda, devido ao que chamamos de «vendaval oportunista», no marco da restauração do capitalismo nos ex-Estados operários, e com o capitalismo apresentando-se como «triunfante». Como a restauração se deu pela via da democracia burguesa, proclamou-se «o fim da história». A esquerda, inclusive aquela que se reivindicava revolucionária, foi afetada profundamente e atraída para o jogo da democracia burguesa, considerada como «valor universal»
Antigos dirigentes da esquerda entraram nos governos e assumiram cargos nas administrações federais, estaduais ou municipais. Ao mesmo tempo, entraram numa dinâmica de corrupção, semelhante ou pior do que a dos administradores habituais da burguesia. Vide o caso do PT brasileiro, cujos dirigentes, em grande parte oriundos da esquerda revolucionária ou da guerrilha, participaram em sucessivas fraudes, roubos, mentiras e manobras de todo tipo. Ou os ex-guerrilheiros tupamaros, que participam do atual governo do Uruguai. Era um fato que, independentemente de suas concepções errôneas, eles eram combatentes contra o imperialismo e arriscavam a vida por uma causa. Agora, ao assumir o mesmo papel que antes criticavam na social-democracia e nos PCs, incorporaram os padrões morais da burguesia decadente, uma moral putrefata.
O Parlamento e as facilidades que ele oferece a seus membros são fatores de corrupção. A esquerda, que antes raramente tinha deputados, passou a conquistar postos e ter acesso a seus benefícios, inclusive a esquerda revolucionária. Numa sociedade decadente e com uma esquerda que perdia a referência na revolução, inclusive em setores que têm sua origem no trotskismo, o efeito foi devastador.
Outra fonte de corrupção são os sindicatos onde, como previa Trotsky, a dependência em relação ao Estado é cada vez maior. A colaboração com as burguesias e os governos, principalmente onde existem frentes populares, pressiona terrivelmente esses dirigentes e afeta inclusive os que vêm da esquerda revolucionária nesse marco de retrocesso. A burocratização e a luta pelos respectivos aparatos e privilégios acabaram por corromper uma ampla camada de antigos ativistas, como está ocorrendo na CUT brasileira, e é um fator de pressão enorme sobre as organizações que se reivindicam revolucionárias. A pressão patronal para entregar os direitos trabalhistas em acordos feitos pelas costas da base do sindicato foi se estendendo. As fraudes nas eleições sindicais são frequentes, assim como a venda de mandatos sindicais para a burguesia, traindo a confiança dos trabalhadores.
Não estamos falando da burocracia tradicional, mas de organizações e dirigentes com trajetória na esquerda que acabam sucumbindo a essas pressões, no marco da decadência moral, do vale-tudo a que nos referimos. E como houve essa decadência, muitas vezes parece natural para a própria base dos sindicatos que os dirigentes ganhem um «extra», ou seja, «presentes» da patronal ou do governo. Afinal de contas, «é preciso levar alguma vantagem como sindicalista» nos dizem muitos trabalhadores.
Os efeitos da marginalidade do trotskismo e da pressão do stalinismo no terreno moral
A luta contra Stalin e seus métodos de calúnia e perseguições marcou a formação da Oposição de Esquerda e a própria fundação da IV Internacional. Entretanto, apesar de toda a batalha de Trotsky, o movimento trotskista arrastou problemas estruturais que marcaram a Oposição de Esquerda e a própria fundação da IV.
Fundada na contracorrente e em pleno auge do stalinismo, a IV esteve condenada à marginalidade por um longo período. Foi duplamente pressionada: pelo imperialismo decadente e pelo stalinismo. Isso fez com que o movimento trotskista sofresse os efeitos da situação também no terreno moral e metodológico. Depois da morte de Trotsky, esse isolamento manifestou-se com mais força sobre uma direção pequeno-burguesa e frágil. Paralelamente ao revisionismo que capitulava à burocracia stalinista no terreno político, Pablo e a direção da IV dessa época usaram métodos típicos do stalinismo em 1951-53 para abortar a discussão. Em 1952, a direção pablista quis impor à seção francesa, o Partido Comunista Internacionalista (PCI), a política de «entrismo sui generis” nas organizações stalinistas. Para isso, afastou 16 membros da direção do PCI e depois substituiu essa direção, expulsou os opositores e tomou de assalto as sedes da seção, tudo para beneficiar seus seguidores e esmagar a maioria da seção que discordava da política do SI pablista. A explosão da IV e sua dispersão foram fruto direto dessa ação.
O outro tipo de pressão que sofreu teve a ver diretamente com a marginalidade e a dispersão depois da crise de 1951-53. As seitas de origem trotskista mantiveram várias dessas características nefastas inseridas pelo stalinismo no movimento operário.
Uma expressão disso ocorreu em grande parte do fenômeno que Moreno denominou «nacional-trotskismo»: organizações que, mesmo que se proclamem trotskistas e a favor da IV Internacional, reivindicam-na como um programa para o futuro, geralmente para quando esse partido nacional tiver forças suficientes para proclamar essa nova Internacional. Na prática, estas organizações buscam só relações com outras organizações e não constroem uma organização internacional superior à qual se subordinem.
Esse é o caso da LO da França, de Lambert e, anteriormente, Gerry Healy na Grã Bretanha e o SWP dos EUA. Quando constroem algum tipo de tendência ou corrente internacional, essas são apenas apêndices da organização fundadora que condicionam todas as decisões políticas neste terreno aos interesses imediatos da “organização-mãe”.
Moreno alertava sobre um aspecto deste tipo de organização que, muitas vezes, acarreta graves problemas metodológicos e morais: para elas, a questão mais sagrada é a “defesa da organização”, na realidade, a defesa de seus dirigentes “contra os ataques externos e internos”. Gerry Healy usava a expressão “defesa da segurança da organização”, ou seja, se surge alguma luta política contra a direção, é lícito para estes dirigentes acusar moralmente, caluniar, mentir para sua base, distorcer as discussões políticas com amalgamas, expulsar qualquer quadro que mostre divergências com a direção “ameaçada”. A experiência comprovou que esse tipo de organização muitas vezes se degenera rapidamente no terreno dos métodos e da moral.
No caso de Healy e de Lambert, ao lado dos métodos burocráticos, desenvolveram um método de destruição pessoal dos quadros e dirigentes que os questionavam. Métodos tipicamente stalinistas, cobrindo-os de calúnias e ataques morais. Não vacilaram frente a nada para defender sua seita nacional e seu papel individual nela. Healy passou décadas acusando caluniosamente a Joseph Hansen, dirigente do SWP dos EUA, de agente da GPU ou da CIA e de haver sido supostamente cúmplice do assassinato de Trotsky. Depois, foi denunciado por dirigentes do WRP por utilizar seu papel de dirigente intocável do partido para assediar e estuprar militantes que eram empregadas do aparato central. Esta degeneração levou à explosão do WRP e ao virtual desaparecimento da corrente healista.
Esta metodologia era independente de uma tendência política determinada. Healy era sectário nos anos 50 e 60 e se negava a reconhecer os novos Estados operários deformados na China e no Leste europeu. Nos anos 70 e 80, capitulava completamente aos dirigentes burgueses nacionalistas, como Kadafi da Líbia e aos líderes do partido Baath do Iraque.
Lambert expressou a mesma lógica de Healy. De uma posição similarmente sectária nos anos 60 com respeito aos novos Estados operários deformados passou à adaptação aos aparatos sindicais como a central Force Ouvrière e à capitulação à social democracia, que se mostrou com clareza na posição com relação ao governo Miterrand. Frente à discussão aberta no interior da QI-CI 4 em relação a essa posição, Lambert reagiu com acusações, amalgamas e expulsões na OCI francesa e com acusações públicas ao dirigente histórico peruano Ricardo Napuri, nesse momento senador. Para justificar sua expulsão, acusou-o de não entregar sua cota ao partido, ou seja, de ficar com o patrimônio da organização. Este método seria repetido mais tarde com o próprio Stefan Just, dirigente histórico do lambertismo na França: quando simplesmente tentou defender um militante expulso por ter diferenças políticas, acabou sendo separado da organização francesa por Lambert. O resultado de toda essa degeneração foi a decadência total da corrente lambertista, reduzida apenas a um aparato na França e alguns pequenos apêndices em outros países, com vínculos com aparatos locais, como O Trabalho, até hoje defensor do PT e da CUT no Brasil.
Vemos que hoje, em várias organizações deste tipo, utilizam-se esses mesmos métodos. Para o PO argentino, qualquer coisa vale para “defender a organização”: em 2001, agrediram os militantes trotskistas do PSTU e da FOS numa marcha contra a ALCA, em Buenos Aires, por ameaçar seu “espaço” em seu “território nacional”.
Para eles, é lícito utilizar calúnias e falsificações como método permanente. Num artigo de L. Magri no jornal Prensa Obrera 979, o PO acusou Moreno, entre outras barbaridades, de ter apoiado a ditadura de Batista contra Fidel Castro, de apoiar o golpe da direita em 1955 contra Perón, de capitular à burocracia peronista, de apoiar a saída institucional de Lanusse e Perón em 1972 e de vacilar diante da ditadura de Videla.
É claro que, em cada um destes casos, como lhe respondeu a FOS, eles tinham todo o direito de discordar e polemizar com as posições que a corrente morenista tomou nestes distintos momentos. Mas, em vez de fazer isso, falsificam a realidade a tal ponto que afirmam que Moreno apoiou a Revolução Libertadora (o golpe militar de 1955 contra Perón) ou que o PST argentino capitulou à ditadura de Videla, o que são puras calúnias. Na realidade, a corrente de Moreno esteve à frente da resistência antes e depois do golpe de 1955 e, em 1976, perdeu mais de 100 militantes frente à repressão por resistir ao golpe de Videla e à ditadura de 1976-82.
Para Jorge Altamira, 5 é lícito falsificar a história e inventar calúnias para desqualificar os adversários políticos. Tudo isso sem sequer dar um exemplo ou um fato comprovado que pudesse justificar tão graves acusações. Eles fazem uma “interpretação” muito semelhante às que o stalinismo costuma fazer, utilizando amalgamas e mentiras para tentar destruir o adversário.
O método que Lambert aplicou na cisão da CI-CI repetiu-se com o PO e a cisão do Progetto Comunista da Itália. O PO havia formado, em 2004, um organismo internacional com algumas organizações, a Coordenadoria pela Refundação da IV (CRCI). Nela, a única organização nacional fora da Argentina com certa implantação na realidade de seu país era o Progetto Comunista. Entre fins de 2005 e inícios de 2006, um debate que começou pela concepção leninista e sobre o caráter do partido que deviam construir dividiu a organização e sua direção pela metade. Esta discussão foi impedida pela ala de Grisolia e Ferrando, que passa a atacar a outra ala e dividir o partido. O outro setor formou o PC-ROL (hoje PdAC). Mais adiante, incorporou-se a discussão sobre a permanência na Refundação Comunista (PRC), depois que essa tomou a decisão de apoiar e participar do governo burguês de Prodi. O PC-ROL foi separado de todas as instâncias da organização internacional e fez uma contraproposta de realizar uma discussão interna serena e ampla dentro da CRCI. Ao mesmo tempo em que não respondeu a esta proposta do PC-ROL, a direção do PO somou-se à ala Grisolia e escreveu um artigo público contra os outros camaradas, lançando todo tipo de insultos, calúnias e ataques morais, e os separou da tendência internacional sem direito à defesa em nenhum organismo.
A refração no trotskismo na fase neoliberal foi mais profunda e generalizada
Se a pressão do stalinismo e a marginalidade geraram a capitulação ao stalinismo e também características sectárias e aparatistas e uma profunda deformação que levou as organizações trotskistas à degeneração no terreno moral, o processo mais recente teve um efeito mais generalizado e destruidor das organizações que antes se reivindicavam da IV.
Desde o final dos anos 80, a pressão mais importante sobre o movimento trotskista tem a ver com a decadência moral do imperialismo e com o «vendaval oportunista». A conversão de organizações e partidos ao regime burguês, em nome da «radicalização da democracia», levou a uma degeneração impressionante no terreno metodológico e moral.
A Democracia Socialista (DS) do Brasil, antes vinculada ao SU, assumiu o ministério da Reforma Agrária no governo Lula, um dos mais pró-imperialistas da América Latina, e é responsável pela implementação da política pró-latifúndio de Lula. Hoje, a DS governa o estado do Pará, onde a repressão aos camponeses é terrível: é o Estado brasileiro que lidera o número de assassinatos de trabalhadores rurais na luta pela terra. A governadora do estado, Ana Júlia, ao assumir o governo, criou um destacamento especial da polícia (a Rotam), denunciada pela Anistia Internacional como uma das mais violentas do Brasil na repressão aos «distúrbios sociais». As ocupações urbanas e as greves dos funcionários públicos, motoristas e operários da construção civil são brutalmente reprimidas. No Dia de Luta promovido pela Conlutas, em maio de 2007, o Pará foi o lugar do Brasil onde a repressão foi mais violenta. Recentemente, um ato dessa governadora levou a DS a se comprometer em um terreno onde sempre tentou aparecer como vanguarda: a defesa dos direitos da mulher. Uma adolescente de 15 anos foi detida pela polícia do Pará e presa numa cela junto a 20 homens para ser estuprada pelos presos como castigo por um suposto roubo. A governadora justificou-se dizendo que «infelizmente, casos de mulheres presas em celas com homens realmente existem» (nesse momento, havia pelo menos mais quatro casos de mulheres nas mesmas condições). Assim, para garantir sua boa relação como administradora do Estado burguês, Ana Júlia, da DS, converteu-se em cúmplice do abuso e da tortura de mulheres nas prisões pelo aparato policial.
Como expressão dessa decadência, a DS foi arrastada, junto com a direção do PT, à crise do «mensalão» 6 de 2005. A degeneração dessa corrente acelerou-se depois de sua adesão à «democratização do Estado» burguês e é cada dia maior. Ou seja, um fato extremamente positivo, a queda do stalinismo, acabou por trazer todo tipo de pressões a organizações que nunca haviam tido a possibilidade de ocupar espaços nas instituições burguesas. Nesse espaço aberto, inclusive para algumas organizações antes marginais que conseguiram ganhar lugar na institucionalidade burguesa, passaram a sofrer as mesmas pressões e a girar à direita, vivendo um processo de degeneração no terreno metodológico e moral.
Uma espécie de «moral do aparato» tomou conta das organizações que ocuparam alguns desses espaços. O caso da Argentina, no início do século XXI, é ilustrativo. O movimento de Luiz Zamora, o MST e o PO conquistaram cargos no Parlamento. Correntes que têm sua origem no trotskismo e na LIT, como o MST (MES no Brasil), passaram a construir organizações que giram ao redor dos mandatos parlamentares e fazem de tudo para manter sua presença nessas instituições burguesas que, por sua vez, garantem-lhes sua manutenção financeira.
Os métodos e a moral dessas correntes parlamentares não têm nada a ver com a moral revolucionária. Seus militantes são educados para girar toda sua atividade em função das eleições e da manutenção dos cargos nas câmaras e prefeituras. A sustentação financeira já não é garantida pela militância, mas pelas várias formas de extrair fundos do Estado (gabinetes, mandatos, planos de trabalho etc.).
Outro fato surpreendente dos últimos anos é a existência de organizações que se reivindicam de esquerda, e até revolucionárias, que são financiadas, e de fato corrompidas, pelas ONGs ou pela social-democracia, em especial no Leste europeu e em países semicoloniais muito pobres.
As organizações que aceitam a total dependência financeira dos distintos aparatos do Estado burguês de fato estão sendo corrompidas e podem perder todo critério moral proletário. Um exemplo disso é que fazem acordos e depois não os respeitam, como o MST argentino que, durante sua última ruptura, fez um acordo sobre a legalidade e a divisão de fundos com o setor dissidente, atual Izquierda Socialista. O MST não cumpriu o acordo e apelou para a Justiça burguesa para quebrá-lo.
Tudo vale para conseguir votos e cargos: alianças policlassistas, levar filiados pagos para as convenções dos partidos, baseados nos mesmos métodos dos partidos burgueses ou reformistas (como fez o MES brasileiro na última convenção do PSOL). Se por acaso vão às lutas operárias e populares, não é para impulsionar a organização e fazer a militância avançar. Só intervêm na luta de classes para construir o prestígio de seus líderes, parlamentares e figuras públicas ou manter algum aparato que permita alcançar melhores resultados. As fraudes nas eleições sindicais são consideradas válidas para fortalecer o peso dessas correntes. Tudo gira em torno dos mandatos e da manutenção dos aparatos que os sustentam.
Mesmo que as pressões venham dessa adaptação ao Estado burguês, não queremos dizer que haja necessariamente uma degeneração moral em todas as organizações de esquerda que assumem cargos no parlamento ou mesmo naquelas que passam a girar em torno das eleições burguesas. Não se trata de uma consequência inexorável da participação no parlamento, mas de uma combinação entre uma pressão objetiva real e um desarme no terreno moral que permite que essas organizações sejam tragadas pelo vendaval oportunista. Assim como Trotsky dizia que nem toda a social-democracia era moralmente degenerada, este é um terreno específico que se deve analisar caso a caso. Só constatamos que essa barreira de classe moral, infelizmente, tem sido transposta por um número cada vez maior de organizações de origem trotskista. Trata-se, exatamente, de enfatizar a importância de entender esse processo para contrapor-lhe uma moral revolucionária.
O efeito na LIT: crises e destruição também no terreno moral
Uma trajetória moral que reivindicamos
A corrente fundada por Moreno, que deu origem à LIT, tinha uma trajetória de décadas de provas de moral partidária, educada nas lutas contra as ditaduras, como as da Argentina de 1955-1958, 1969-1973 e 1976-1982, ou a luta dos camponeses peruanos na década de 1960, ferozmente reprimida, que levou à prisão de Hugo Blanco e outros companheiros internacionalistas. Essa trajetória de anos formou uma sólida moral nos quadros, que explica a força dos militantes do PST argentino que caíram presos e foram submetidos a torturas e assassinatos, mas não entregaram seus companheiros.
Por outro lado, nossa corrente sempre atuou com a metodologia de Trotsky com relação às acusações morais sem provas ou aos amálgamas stalinistas. Repudiamos as calúnias de Healy ou dos «espartaquistas» contra Joe Hansen desde o primeiro instante, tanto quando tínhamos acordo com o SWP dos EUA, quanto quando não o tínhamos
Além do caso Napuri, já relatado, tivemos outros em que nosso comportamento foi semelhante. Como no caso Bacherer, que é importante citar, pois este dirigente não era da nossa corrente, mas do nosso adversário político na Bolívia (o POR-Lora). Numa polêmica aberta entre ele e a direção lorista, Bacherer enfrentou o mesmo tipo de métodos canalhas de acusações morais para justificar sua expulsão do POR. A LIT estimulou a conformação de um Tribunal Moral que julgasse as acusações contra ele. Nossa seção boliviana assumiu a organização da campanha, com o grupo de Bacherer (nesse momento vinculado ao PO argentino). O camarada Zé Maria do PSTU foi enviado para participar desse Tribunal em La Paz.
Aprendemos com a forma como Moreno respondeu, em toda sua trajetória, às diferenças de fundo dentro da nossa organização. Para citar um exemplo: a ruptura com Vasco Bengochea quando aderiu ao castro-guevarismo, no início da década de 1960. Neste caso, as diferenças eram tão grandes que foi necessária a separação em organizações diferentes, mas Moreno sempre teve uma atitude muito respeitosa, da mesma forma que Bengochea. O mesmo aconteceu na relação com Kemel George, membro do CEI da LIT, e sua corrente, quando assumiu uma posição guerrilherista e rompeu com o PST colombiano e com a LIT, em 1987.
Também temos uma tradição de como enfrentar a violação dos princípios por parte dos militantes, sobretudo se são dirigentes ou quadros com tarefas públicas. A então corrente brasileira da LIT, a Convergência Socialista (CS), elegeu dois vereadores em 1982, quando estava dentro do PT. Um deles, de Campinas, comunicou à direção, pouco depois de ser eleito, que o salário de vereador seria dele e não do partido. O CC manteve-se firme na defesa de que todo o ingresso proveniente do parlamento era do partido e não abandonou esse princípio. Como ele não aceitou, foi afastado da organização. Outro caso se deu com o primeiro prefeito eleito pela CS, ainda no PT, em 1988, na cidade de Timóteo. Esse prefeito reprimiu uma greve de funcionários e foi imediatamente afastado e expulso de nossa organização.
Essa reação de defesa dos princípios ajuda a entender por que a CS conseguiu atravessar o período de atuação no PT e sair com a maior parte de sua estrutura de quadros intacta, ao contrário, nesse aspecto, de outras organizações trotskistas que, na mesma época, praticaram o entrismo no PT e depois se degeneraram completamente. Essas organizações não entendiam como podíamos atuar assim, afastando ou expulsando parlamentares e prefeitos eleitos, com todo o peso que tinham, em particular com os votos que haviam acumulado.
Acreditamos que essa trajetória moral revolucionária, que formou gerações de quadros da nossa corrente, explica por que, apesar dos graves problemas ocorridos no final da década de 80, a LIT tem tido reservas suficientes para reagir a esses desvios e reconstruir nossa Internacional e continua tendo uma postura moral diferenciada da ampla maioria das demais correntes de esquerda. Inclusive daquelas que provêm do trotskismo, mas entraram num processo de degeneração profunda nesse terreno.
O efeito da crise da LIT no terreno moral
A crise da LIT, como concluímos no documento de Balanço de 2005, chegou a torná-la irreconhecível. Estava destruída ao ponto de termos de lutar por sua reconstrução. Abriu-se um retrocesso metodológico e moral com relação a toda a trajetória da corrente, chegando à utilização de mentiras e calúnias, de violência entre camaradas na luta pelos bens e patrimônios do partido que, em nenhuma hipótese, tinham justificativa no grau das diferenças surgidas na luta fracional.
Como já escrevemos no Balanço do último congresso, a situação política dos anos 90, com a restauração do capitalismo via reação democrática e o abandono do marxismo revolucionário pela ampla maioria das correntes de esquerda, que denominamos “vendaval oportunista”, criaram as bases objetivas para a crise da LIT. Neste marco, em que era inevitável que a LIT passasse por uma forte crise, a morte de Moreno foi decisiva para que, em vez de enfrentar essa crise e superá-la, acontecesse uma verdadeira destruição de nossa internacional. Como dizemos no balanço: “se Moreno não tivesse morrido, dificilmente a crise da LIT teria culminado com sua destruição”.
Temos de agregar que, se há um campo em que a ausência de Moreno se fez sentir especialmente, foi no terreno metodológico e moral. O retrocesso e a destruição aí se manifestaram de forma generalizada. Houve graves problemas morais no MAS argentino e na LIT, refletindo a profundidade dos desvios que envolviam a revisão do programa, da concepção do partido e uma adaptação profunda à democracia burguesa.
O espírito do vale-tudo penetrou, a partir de sua direção no interior da Internacional. Valia tudo para derrotar o inimigo interno, manobras, mentiras etc. Lutas duras pelos aparatos do partido, pelos mandatos dos parlamentares, patrimônios e sedes tornaram parte comum da vida interna. O desprezo pelas finanças dos “adversários” fez com que, dependendo de quem dirigia determinada seção, se considerasse válido dilapidar de forma irresponsável seu patrimônio.
A crise afetou o regime e debilitou a moral do conjunto da LIT. A moral partidária depende da confiança na organização bolchevique, de que cada companheiro coloque, em primeiro lugar, a defesa do camarada. Está apoiada na confiança em que sua causa, a luta pela revolução socialista, os une frente ao capitalismo imperialista. Com a explosão da crise, no marco da ofensiva ideológica e política do imperialismo, depois da queda dos ex-Estados operários, que afetou o conjunto da esquerda, a convicção na revolução e a identificação programática ficaram debilitadas. Cada uma das frações deixava de ver-se não como parte de um coletivo superior, a LIT, mas sim como uma fração com objetivos próprios e imediatos. Isto foi válido para o conjunto das frações em que a LIT se dividiu. A maioria do PST espanhol formou uma fração com uma organização, SR da Itália, que não pertencia à LIT e atuava na Internacional e fora dela como uma fração pública para dissolvê-la, ou seja, destruí-la, pois “seu projeto tinha fracassado”. Cada setor separado ficava mais vulnerável às tremendas pressões vindas da sociedade e da moral decadente que predominavam nela.
Finalmente, se a revolução estava postergada para um futuro distante o fundamental era, como afirmavam algumas das frações, o “estudo e o rearme teórico”. Ou, como afirmavam outras alas, a meta fundamental era ganhar peso no parlamento, confundindo isso com “ter influência de massas”. O objetivo imediato de cada setor ganhava um peso estratégico. O decisivo era ter um deputado ou o fundamental era estudar, buscar um “novo caminho”, revisando o marxismo, montar uma revista para avançar no “rearme teórico-político”. E o partido e a Internacional eram um obstáculo.
Em muitos países, passaram a existir duas ou até três seções da LIT, ou das distintas frações e correntes em que ela se dividiu. Em muitos casos, a lógica foi a disputa do espaço, buscar destruir a outra organização como se fosse inimiga, baseada em qualquer tipo de justificativa. Usou-se o método que a LIT sempre repudiou e combateu, por exemplo, na luta contra o lambertismo, como as acusações sem provas a militantes de outra fração, ou membros das organizações surgidas na ruptura, para destruí-los.
Reconstrução e sequelas
Apesar de todo esse retrocesso, a LIT tinha reservas, a tradição baseada na trajetória da corrente morenista, e houve uma resistência a este tipo de métodos e ao retrocesso no campo moral. Esta resistência foi ampliada até dar forma, a partir de 1994, a uma luta pelo resgate e reconstrução da LIT, também no terreno metodológico e moral.
Depois de várias rupturas e uma dura luta interna, a maioria da Internacional passou a reverter este processo de destruição, a partir do V Congresso, em 1997. Em nossa opinião, a maior prova da existência dessa tradição e dessas reservas morais é que se conseguiu impedir a dissolução e avançar rumo à reconstrução. Esta decisão do congresso de 1997, manter a LIT no marco dos princípios políticos e organizativos do programa da IV Internacional e assumir a batalha por sua reconstrução, foi a chave para todo o processo que veio depois e para poder retomar, também, a metodologia e a reconstrução da confiança entre os quadros, e a moral partidária na nossa Internacional.
Mas isso não significa ignorar as graves sequelas que ficaram do período da crise e destruição. Este quadro de retrocesso, de perda de confiança não se refletiu somente nos dirigentes e nas frações, mas na camada mais ampla de quadros que havia dedicado sua vida à reconstrução do partido e da Internacional. Por isso, depois do congresso de 1997, em que se vota por pequena margem manter a LIT baseada no seu programa e concepção de Internacional centralizada democraticamente, a batalha pela sobrevivência é vitoriosa, mas as perdas são enormes e as sequelas na coluna de quadros são profundas. Uns 80% dos antigos quadros já não militavam mais nela.
Por outro lado, num rápido resumo da evolução posterior da ampla maioria das organizações que romperam com a LIT, podemos dizer que foram degenerando cada vez mais, foram abandonando conscientemente a metodologia e a moral partidária típica do morenismo, voltando a se dividir sucessivas vezes ou, simplesmente, deixando de existir como correntes.
Nestes processos de rupturas e divisões, muitas vezes apareceram os problemas morais em forma ainda mais agravada pelo isolamento e pela perda da perspectiva revolucionária e internacionalista. As ocupações dos locais voltaram a acontecer, a utilização por um grupo de uma possessão legal circunstancial de um bem do partido para tirar esses bens da organização, em seu benefício, ou, inclusive, a usurpação da legalidade burguesa, em detrimento da maioria.
Outra violação básica que se estendeu de forma preocupante foi o não-cumprimento de acordos assinados. Houve casos em que acordos assinados entre duas organizações de trajetórias comuns para uma repartição de bens ou de entradas foram simplesmente descumpridos sem maiores explicações. As manobras de todo tipo para apropriar-se individualmente dos bens do partido, como a legalidade ou sobre a divisão do patrimônio, foram frequentes nestes processos. A posse do nome, do jornal ou do site e até arquivos de um militante ou grupo de militantes que rompiam com seu partido e os tinham em seu nome, reivindicava-se o direito a explorar os direitos de propriedade e inclusive contestar sua ex-organização na justiça burguesa.
Ouvimos, recentemente, de várias organizações ou grupos, expressões como: “que podemos fazer, vivemos na lei da selva!” ou “que essas purezas morais são coisas do passado”.
É a expressão do que chamamos “vale-tudo” dentro das organizações que se dizem revolucionárias. Os que hoje são vítimas das manobras, amanhã fazem o mesmo com os outros e, nesse processo, aprofunda-se a perda de referência moral e a degeneração do conjunto.
Tivemos uma trajetória oposta a estes setores porque não aceitamos a moral do vale-tudo. Buscamos retomar as tradições e a trajetória da IV de Trotsky e de nossa corrente e polemizar com os defensores do vale-tudo. Reconhecemos nossas fragilidades e percebemos as tremendas pressões que a decadência do imperialismo exerce. Mas alertamos nossos quadros de que temos de enfrentar cada uma delas se queremos reconstruir a IV e os partidos revolucionários em cada país.
Um exemplo de que se mantinham os critérios morais bolcheviques e que a decisão de 1997 da continuidade da LIT tinha uma expressão direta no terreno moral se expressou através de um episódio pouco conhecido. Aconteceu pouco depois desse congresso, no qual o MAS argentino propôs dissolver a LIT como Internacional centralizada. Ao ser derrotado, esse partido decidiu não acatar a votação e rompeu com a LIT. Nesse momento, uma quantidade importante de dinheiro do MAS estava sob a guarda de um militante que, nessa ruptura, ficou com a LIT e desligou-se do MAS. A direção dessa organização, que acabava de romper com a LIT, procurou a direção da Internacional e solicitou que esse dinheiro fosse entregue. A LIT, cuja situação financeira era difícil, imediatamente garantiu que todo o dinheiro chegasse às mãos da organização argentina, já que não era mais da LIT. A razão era muito simples: esse dinheiro era fruto do esforço da militância do MAS e a esse partido e a sua direção lhes cabia dispor desses recursos para o projeto que decidissem. Esta era a metodologia tradicional da nossa corrente e não fizemos mais do que resgatá-la, mas a ampla maioria das correntes que romperam com a LIT não podem apresentar exemplos como este.
Por outro lado, no último período, já não nos vemos tão solitários nessa luta. Como contraponto a esta degeneração cada vez maior das organizações de origem trotskista, inclusive as que foram parte da LIT, tivemos a satisfação de encontrar setores que, vindos do morenismo, reagiram a ela. Como o CITO, que hoje já se unificou com a LIT, ou como a Esquerda dos Trabalhadores (IT) da Argentina, que participou da UIT e da ruptura da mesma com o MST, e que já avançou na reaproximação coma LIT, estabelecendo um comitê de enlace com o FOS da Argentina.
Também temos, desde março de 2007, um processo de discussão e reaproximação com a UIT a partir de sua ruptura com o MST. Na nossa agenda de discussão, foram pautadas, de comum acordo, para verificar a possibilidade de convergir, os temas programáticos, de concepção de partido e também de questões de método e de moral. Nossa perspectiva, se houver acordo nos temas essenciais, é confluir numa sólida organização internacional.
Queremos examinar este processo e tirar as lições junto a todas essas organizações e ao ativismo revolucionário. Acreditamos que, seja para os que vêm do trotskismo e do morenismo, seja para os que vêm de outras tradições, são discussões essenciais para construir uma internacional revolucionária.
Desde o congresso de 1997, começou um processo de reconstrução da LIT, que envolveu o programa, a concepção de partido e o internacionalismo, que também vem avançando no terreno da moral partidária. Hoje podemos dizer que tivemos avanços em todos estes campos e isso explica a situação atual da LIT e a possibilidade de que venha a cumprir um papel importante na reconstrução da IV Internacional.
Neste marco de recuperação e reconstrução da nossa moral partidária, tivemos um erro de avaliação sobre a situação objetiva e suas conseqüências sobre a esquerda revolucionária, o trotskismo e nossa Internacional. Atuamos como se a situação fosse a “de sempre” e não vimos que as pressões de conjunto, a ofensiva neoliberal, desde os anos 90, e a degeneração da esquerda no terreno moral exigiam uma vigilância ainda maior e uma luta mais permanente pela moral revolucionária e contras essas pressões. Atuamos “caso a caso”, sem dar a dimensão devida ao problema no seu conjunto.
Tivemos, inclusive, um importante atraso, pois só começamos a identificar mais recentemente, desde o congresso de 2005, a gravidade desse retrocesso e dos problemas neste campo na Internacional, ocasionados pelo período de destruição da LIT. Era lógico que se a LIT, no marco do vendaval oportunista que se abateu sobre a esquerda, sofreu uma destruição nos terrenos teórico, programático e organizativo, isto deveria afetar também o terreno moral. Casos como o da seção boliviana nos fizeram refletir mais de conjunto que é necessário dar a devida importância à educação e a uma consciência e atuação permanentes neste terreno, a partir de agora.
Os últimos tempos na LIT e a necessidade de retomar nossos critérios e combater essas pressões. Como enfrentar esses problemas?
Somos conscientes de que a situação de decadência da sociedade é cada vez maior, que nossos militantes atuam nesse meio. Sabemos que os novos companheiros do partido trazem a educação moral típica do mundo de hoje e seus preconceitos. Mas o partido revolucionário necessita atuar com clareza sobre essa realidade. Para isso, precisa reconhecer o problema em sua dimensão e estar disposto a enfrentá-lo, sabendo que seremos uma minoria e estaremos na contracorrente das tendências mais profundas da sociedade na qual atuamos e da ampla maioria da esquerda atual. O partido revolucionário não vive numa redoma de vidro e sempre estará exposto às pressões, ainda mais hoje com a decadência moral do capitalismo. A questão é alertar sobre essas pressões e estar disposto a contrabalançar, a educar e a fazer o sacrifício que for necessário para manter os princípios e afastar os que cederem a esse tipo de degeneração.
Identificar os problemas abertamente e com clareza
Problemas graves surgem constantemente em nossas fileiras. Um dos mais constantes é a opressão da mulher no partido e no trabalho, incluindo agressões às mulheres na família. Esse tema afeta, em primeiro lugar, a própria moral proletária, pois oprimir a mulher significa oprimir 50% da classe trabalhadora e dividir a necessária unidade proletária diante da burguesia. Significa ser cúmplice da opressão que a sociedade capitalista reproduz a cada dia. Enfim, a ideologia machista é incompatível com a moral revolucionária. Da mesma forma, se penso que meu companheiro de trabalho é inferior porque é negro, não posso lutar efetivamente contra o racismo.
Se o militante pensa que sua companheira, sua colega de trabalho ou uma companheira do partido são inferiores e que é legítimo aproveitar-se da opressão, está sendo cúmplice da opressão que a sociedade capitalista reproduz em todos os níveis. Seria o mesmo que dizer «sou revolucionário, mas odeio os árabes, ou penso que os negros são inferiores…». Assim como nenhuma classe pode ser vanguarda dos explorados se aceitar a opressão de outros povos ou raças, nenhum partido revolucionário pode apoiar ou tolerar a opressão de uma parte fundamental da classe, as mulheres.
Esse é um dos terrenos em que a ideologia burguesa causa mais danos à moral revolucionária, pois a opressão da mulher é secular, e boa parte dos problemas aparece no âmbito «privado», na família que, por sua vez, reflete uma discriminação profundamente arraigada na sociedade capitalista. Isto exige uma ampla educação para toda a militância e um combate permanente a todas as atitudes machistas dos militantes e nenhuma tolerância para com a discriminação, o assédio e as agressões à mulher dentro do partido ou na sociedade. Não pode haver nenhuma dúvida com relação a isso: o partido que aceita a opressão machista está condenado a degenerar-se moralmente.
A direção da LIT e dos partidos não podem ceder nesse tipo de questões
Em primeiro lugar, deve-se fazer um longo trabalho de educação em nossas fileiras. No entanto, no caso de qualquer violação dos princípios morais, não se pode ceder. É importante recordar a trajetória que vem desde a origem da nossa corrente. O mérito da direção foi apoiar-se na nossa tradição para enfrentar estes novos casos. Em todos os casos comprovados, os envolvidos foram sancionados e, nos mais graves, expulsos do partido.
Quer dizer, foi necessária uma rigidez de princípios para defender a moral partidária. Qualquer outra posição que cedesse às pressões do aparato parlamentar ou sindical teria sido fatal para a moral revolucionária. Além de alertar sobre essas pressões e estar dispostos a educar, é necessário fazer o sacrifício necessário para manter os princípios e afastar os que cederam a este tipo de degeneração.
Para os dirigentes, a exigência de moral revolucionária é muito superior
Se a defesa da moral partidária e o combate e esse tipo de violações é uma necessidade permanente, ela redobra-se quando se trata dos dirigentes. Em geral, vemos nas correntes de esquerda, inclusive nas que se reivindicam revolucionárias, o comportamento oposto: quando se trata de dirigentes, dizem que é preciso ir com cuidado e tentam buscar saídas que não os afastem das tarefas de direção, independente do grau de violação moral que tenham cometido. Em geral, utiliza-se o argumento de que «quando se toma uma medida contra os dirigentes, quem é punido é o partido», que esse dirigente é «imprescindível» para o partido por sua capacidade etc. O raciocínio deve ser o oposto: o que mais afetaria o partido seria ter como membro da direção alguém que cometeu graves faltas morais.
A «proteção especial» ao dirigente é típica do stalinismo, que estabeleceu a ideia de que os chefes são intocáveis e devem ter um tratamento diferenciado. Nossa lógica deve ser a oposta: quanto mais responsabilidade tiver um dirigente, mais forte deve ser a exigência. Se o partido encobre uma falta moral, alegando que o envolvido é um dirigente, está semeando a formação de uma burocracia e preparando sua própria destruição como partido revolucionário. Ao contrário, o dirigente tem que ser um exemplo vivo de moral revolucionária que inspire todo militante, e a vanguarda do movimento de massas possa ver nele uma referência nesse terreno frente à degeneração moral do restante das correntes de esquerda. Com o companheiro novo no partido, pelo contrário, devemos ter toda a paciência, ser fundamentalmente educativos e pedagógicos, tentando fazer com que entenda a moral revolucionária. Nossa atitude é completamente diferente no caso de surgirem problemas morais envolvendo dirigentes dos partidos e da LIT.
Como atuar nos casos em que os dirigentes estão envolvidos em problemas morais graves? Nossa opinião é que aí está uma das grandes provas para qualquer Internacional. No caso recente da Bolívia, a direção do MST não teve dúvida em sancionar um quadro sob uma acusação moral. Mas quando se viu diante da possibilidade de seu principal dirigente ser sancionada pela CCI, preferiram romper com a LIT.
Durante a discussão do caso, houve manifestações de que deveríamos buscar uma negociação, evitar por qualquer meio a ruptura da seção, mais ainda por se tratar de um país onde a revolução estava num ponto avançado na América Latina.
Tendo total acordo com a caracterização sobre a Bolívia, acreditamos que foi um acerto importantíssimo não ceder a nenhum tipo de pressão da direção do MST nesse sentido, nem às propostas de “negociação” que nos fizessem deixar de lado os princípios sob a justificativa de manter a seção na LIT. Nossa posição foi exigir que o companheiro se apresentasse à CCI com todos os direitos de defesa como qualquer militante, mas sem condições nem privilégios. Mais ainda por ser um dirigente da seção e ex-membro do CEI e do SI. Buscamos garantir, de todas as formas, os recursos necessários para que a CCI operasse e seus membros pudessem receber a denunciante, viajar e entrevistar-se com o denunciado, os familiares envolvidos e outras possíveis testemunhas. Enfrentamos o boicote do MST e tentamos convencê-los até o final sobre a necessidade de que se submetessem à CCI. Mas, inclusive quando ameaçaram romper com a LIT, não aceitamos nenhum tipo de exceção em função da importância desse dirigente para o MST, como queria sua direção.
Acreditamos que foi uma decisão corretíssima e que nos dá uma perspectiva de futuro como uma Internacional. Qualquer retrocesso neste terreno levaria a abrir um caminho de crises e dissoluções, porque significaria ceder no terreno da moral revolucionária e ser cúmplices da degeneração moral da seção e, consequentemente, da LIT. Como ser duro com qualquer militante, se se pactua com um dirigente com a justificativa de não perder a seção? Quem cede ou negocia neste terreno destrói o partido na sua base moral, na confiança na solidariedade destes camaradas e, neste caso, na defesa da mulher e no combate à sua opressão. Quem cede numa questão pode ceder em qualquer outra questão de princípios.
Que tipo de moral queremos construir?
Para nós, esta não é uma discussão menor. A resposta passa por uma educação sobre a moral revolucionária. Sem uma compreensão marxista, é muito difícil resistir às pressões dos aparatos e da moral burguesa decadente. Devemos incorporar à nossa tarefa de construção a reeducação da militância sobre a moral revolucionária. Temos que recordar que, como qualquer agrupamento humano, é necessário que cada militante tenha clareza sobre a necessidade da moral revolucionária e seus fundamentos.
Não vamos apresentar um decálogo sobre o que se deve fazer ou não no terreno moral. Mas se a direção da LIT e cada direção nacional encararem essa questão com a devida importância, podem fazer avançar muito a concepção da moral revolucionária da militância, tomando cada caso importante, seja positivo, seja negativo, para tirar as conclusões para o conjunto. Podemos aproveitar cada uma delas para educar a enfrentar os problemas desse tipo no partido e no movimento operário. Uma das consequências disso pode ser não só interna, mas um avanço na relação com a classe operária. Tivemos exemplos de como essa prática pode fortalecer. Vamos citar, neste texto, uma experiência que conhecemos.
O caso G. na Espanha – Em primeiro lugar, independentemente do fato de ser dirigente da seção espanhola na época, foi tratado com todo rigor frente à grave acusação. Uma vez comprovada a acusação, foi sancionado e expulso do partido, o que depois foi confirmado e reafirmado pelo congresso mundial da LIT. Por decisão do congresso, foi comunicada a situação deste ex-dirigente às organizações da esquerda com as quais temos relações.
Com todo o orgulho que devemos ter para manter nossa trajetória e nossos critérios, precisamos socializar essas e outras experiências que tenhamos e que muitas vezes aproveitamos para educar a militância e construir um perfil frente à vanguarda. Devemos começar a fazer conscientemente este tipo de discussões e a divulgação de exemplos a partir de agora em cada um de nossos partidos e em toda a LIT.
Mais ainda, acreditamos que nossa intervenção para fora, no movimento operário, deve assumir a recuperação das tradições da moral proletária. Nossos partidos devem ser exemplos vivos e lutar por esse tipo de regime e de moral nas organizações do movimento de massas, lutando contra as burocracias, os stalinistas e os revisionistas do trotskismo nesse terreno. Não se pode lutar consequentemente contra o imperialismo e seus Estados, contra as burocracias, como o PT e os PCs, sem dar esse combate aberto baseado numa compreensão superior desses problemas e princípios.
Existe todo um terreno em que podemos e devemos dar esse combate: na denúncia da degeneração moral do capitalismo imperialista decadente, dos governos e das direções burocráticas e na afirmação da moral proletária. Se, por um lado, a década de 1990 e a ofensiva ideológica reacionária criaram um telão de fundo que favoreceu a degeneração e a perda de referências da classe no campo moral, a situação revolucionária e a queda do stalinismo abrem um espaço para uma ofensiva nesse terreno.
A queda do stalinismo abriu um espaço amplo, sob a condição de estarmos à altura em todos os aspectos. Se formos a vanguarda na afirmação desses princípios, se formos um exemplo vivo, vamos atrair o melhor do ativismo, vamos encontrar companheiros que, mesmo que não tenham acordo total com nosso programa, nos admiram por nossa metodologia e nossa força moral, em contraposição ao vale-tudo que impera e à degeneração dos reformistas, dos burgueses e stalinistas.
O papel da moral na reconstrução da IV
No nosso último Congresso alertamos para o fato de que não basta ter um programa e uma política revolucionária. É necessária uma concepção e uma estrutura bolcheviques para construir um partido revolucionário. Queremos alertar que também é necessária uma moral partidária bolchevique para que esse partido e a Internacional sejam sólidos. Há uma relação estreita entre ambas.
É um erro achar que um partido revolucionário é construído somente com política. Se a LIT e seus partidos não forem capazes de demonstrar que têm uma moral revolucionária, que não retrocedem para enfrentar seus problemas, inclusive quando são graves e quando afetam seus dirigentes, não terão futuro. Isso deve ter consequências de fundo na vida cotidiana de nossas organizações, na educação de toda uma nova geração de militantes e no combate às pressões e aos desvios que todo partido sofre por estar inserido na sociedade.
Que tipo de militante a IV necessita?
Partimos da visão de Moreno de que nossa moral é uma moral para travar uma luta implacável para derrotar um inimigo não menos implacável: os exploradores e o imperialismo. Por isso, a obrigação moral número um de cada militante, o dever moral mais sagrado, subordinando a isso a própria vida, é fortalecer o partido e o desenvolvimento da organização.
No partido ocorre uma relação distinta entre o indivíduo e o coletivo: não há nada superior como indivíduo que o camarada do partido. Nossa moral baseia-se em que a vida do companheiro é mais importante que a nossa. Nosso dever de militante para com o partido exige fazer tudo o que possa ajudar a desenvolver cada camarada, cada militante, seja no sentido físico, intelectual ou moral, porque isso fortalece o partido e o nosso objetivo final: a destruição do capitalismo e a construção do socialismo e do comunismo.
Isso vai exigir sacrifício de cada um de nós (mudar de trabalho, transferir-se de cidade ou país, adiar planos profissionais ou conseguir bens), mas se for necessário para fortalecer e apoiar o desenvolvimento do partido, para lutar por uma vida melhor para todos, então se justifica plenamente. Como dizia Nadeska Krupskaia em A Personalidade de Lênin:
“Com o exemplo de sua vida, Lênin mostrou como se devia proceder. Não podia nem sabia viver de outra maneira. Não era um asceta, gostava de patinar, andar de bicicleta, escalar montanhas, caçar; amava a música, amava a vida em sua beleza múltipla, amava os camaradas, os homens. Todos sabem de sua simplicidade, de seu riso alegre e contagioso. No entanto, subordinou tudo isso à luta por uma vida luminosa, cultivada, cômoda, plena e alegre para todos. Sua maior alegria eram sempre os êxitos nessa luta. Sua personalidade se fundia, sem nenhum esforço, com sua atividade social… «.
Por que a lealdade, a camaradagem e a franqueza entre camaradas são tão importantes?
A lealdade entre os revolucionários é uma das características mais importantes na construção de uma moral comunista. A franqueza é a base da confiança. Sem construir a confiança não há como sustentar o centralismo democrático e isso exige um esforço permanente. Sobretudo em um momento em que a LIT passa por reunificações, fusões, incorporações de novas organizações e de toda uma nova geração de militantes jovens, é necessário fortalecer essa moral partidária. E também criar os anticorpos contra todo tipo de intrigas ou calúnias que envenenam o ambiente e destroem a confiança entre todos. Se um companheiro tem uma crítica dura, deve poder fazê-la sem medo nos organismos do partido. As intrigas, mentiras ou calúnias debilitam a moral partidária porque minam a confiança necessária.
A camaradagem, a preocupação e solidariedade permanentes entre os militantes devem ser cultivadas em nossos partidos e na LIT. A preocupação com os problemas que afetam a vida de cada camarada deve ser parte de nossa vida e isso fortalece a moral partidária: os companheiros sentem-se fortalecidos quando percebem que o partido e seus camaradas se preocupam sinceramente com os demais, e quando têm problemas, o ajudam a encontrar uma saída.
O papel da Comissão de Moral
A luta de Trotsky contra as calúnias e amálgamas de Stalin deixou ensinamentos preciosos de como abordar os problemas morais que ocorrem no movimento operário e no partido revolucionário. A tradição do movimento operário internacional, desde o século XIX, é que, em caso de denúncia que envolva aspectos morais, são criadas instâncias próprias do movimento operário, cuja composição se baseia em personalidades com capacidade de juízo e conduta inquestionável, para garantir que sua investigação não seja contaminada por eventuais divergências políticas.
Trotsky retomou essa tradição para enfrentar a gigantesca onda de ataques morais, amálgamas e calúnias impulsionadas pelo stalinismo contra as organizações trotskistas, contra a figura de Trotsky, os velhos bolcheviques e toda a vanguarda revolucionária. Trotsky pediu a formação de um Tribunal Moral, que se concretizou na Comissão Dewey, onde ele se apresentou para responder às acusações de Stalin diante de uma instância que permitisse dar uma sentença indiscutível sobre as calúnias.
A IV Internacional também extraiu lições dessa luta contra o stalinismo no terreno moral. O stalinismo utilizava sua maioria nos organismos de direção para que esses julgassem acusações morais contra dirigentes que tinham posições críticas, e esses organismos tomavam para si a «tarefa» de castigá-los. Assim se valiam de uma maioria política para desmoralizar dirigentes opositores naquilo que é mais precioso para um revolucionário: uma moral intocável.
A partir daí, a tradição da IV Internacional é formar Comissões de Controle ou de Moral especiais para zelar pela moral partidária. Estas comissões são eleitas pelos congressos e só respondem ao próximo congresso, ou seja, são independentes do Comitê Central ou da direção, e têm plenos poderes para tomar resoluções sobre as questões que afetam a moral, que devem ser acatadas por todos os militantes e organismos, inclusive pela direção.
Na LIT, por estatuto, temos uma Comissão de Controle Internacional (CCI) eleita no congresso com o critério de separar completamente esse tipo de questões e garantir-lhes um tratamento objetivo, cujas decisões têm de ser acatadas por todas as instâncias de direção. Os estatutos da LIT preveem que “o Congresso Mundial elege uma Comissão de Controle Internacional de três membros, (…) gozando de uma ampla reputação de objetividade. Esta comissão, eleita por no mínimo ¾ dos delegados tem a função irrevogável e inapelável de examinar os casos referentes a ações incompatíveis com a moral proletária e revolucionária e decidir sob sua consciência. A Comissão de Controle Internacional só responde diante o Congresso Mundial e todas as demais instâncias nacionais e internacionais estão obrigadas a colaborar com o tema que examina e considera pertinente. As acusações que a Comissão de Controle Internacional examina são assumidas por pedido do CEI, do SI ou por iniciativa própria.”
É muito importante para a manutenção da moral revolucionária da LIT a existência de organismos próprios de extrema objetividade e respeitados pelo conjunto da militância da internacional. Esta comissão zela para separar os problemas morais dos problemas políticos e impedir que a justiça burguesa, inimiga de classe, acabe por resolver este tipo de problemas.
Estes organismos devem também existir nas seções para tomar estas questões. Só um organismo deste tipo pode resolver casos que envolvam violações da moral em litígio ou com versões conflitivas entre militantes. Por exemplo, no caso do MST boliviano, a organização era seção oficial da LIT e não possuía Comissão de Controle. De acordo com uma compreensão mais clara da importância da moral, uma das decisões deste congresso é que cada seção da LIT deve possuir sua própria Comissão de Controle com as características indicadas por esse critério geral do nosso estatuto. Devemos formar essas comissões garantindo que sejam formadas por quadros de trajetória inquestionável e com experiência e discernimento para enfrentar questões que têm a ver com a defesa da moral partidária.
Para garantir a prioridade, dada a importância das tarefas da CCI e das CCs de cada seção, é fundamental, além da educação proletária no campo moral, o fortalecimento e o apoio de toda a LIT, começando por sua direção e as das seções, ao funcionamento das Comissões de Controle.
Acreditamos que, levando em conta o processo pelo qual passamos, as dificuldades, a juventude a inexperiência de algumas de nossas seções nesse terreno, é necessário que a Comissão de Controle Internacional tenha uma comunicação com as comissões de controle nacionais para que possam trocar e construir critérios de procedimento e decisões que se apoiem na experiência da IV e da nossa corrente e que sejam comuns a toda a LIT-CI.
O papel da LIT e da direção dos partidos na questão moral
Aqui cabe esclarecer uma confusão gerada por não dar a devida importância à questão no último período. Por um erro da direção da LIT, que não tinha tirado todas as conclusões do problema da destruição também no campo moral, ficou a ideia de que os problemas de moral só interessam à Comissão de Controle e que a última tarefa da direção é comunicá-los à CCI. É verdade que quem investiga e resolve estes casos são as CCI ou as Comissões de Moral das seções. Mas existem tarefas da direção internacional neste terreno: uma é que a direção não só encaminha os casos concretos à CCI, como diz o Estatuto, mas também garante todas as medidas, zela para que a CCI tenha todos os meios para resolvê-los, e deve acompanhar os problemas que se apresentarem nessa marcha para identificá-los e ver se estão resolvidos. O mesmo deve ser aplicado a cada seção nacional em relação à direção nacional com a respectiva Comissão de Controle.
A outra grande tarefa, na qual estivemos débeis no último período é a necessidade de educar teórica e programaticamente a militância na moral revolucionária. O mesmo deve acontecer em todas as seções da LIT. Como parte desta tarefa, e para começar a divulgar nossas posições nesse terreno, devemos divulgar este material e armar nossa militância para que possa fazer esta discussão nos organismo do movimento e junto a toda a vanguarda.
Notas